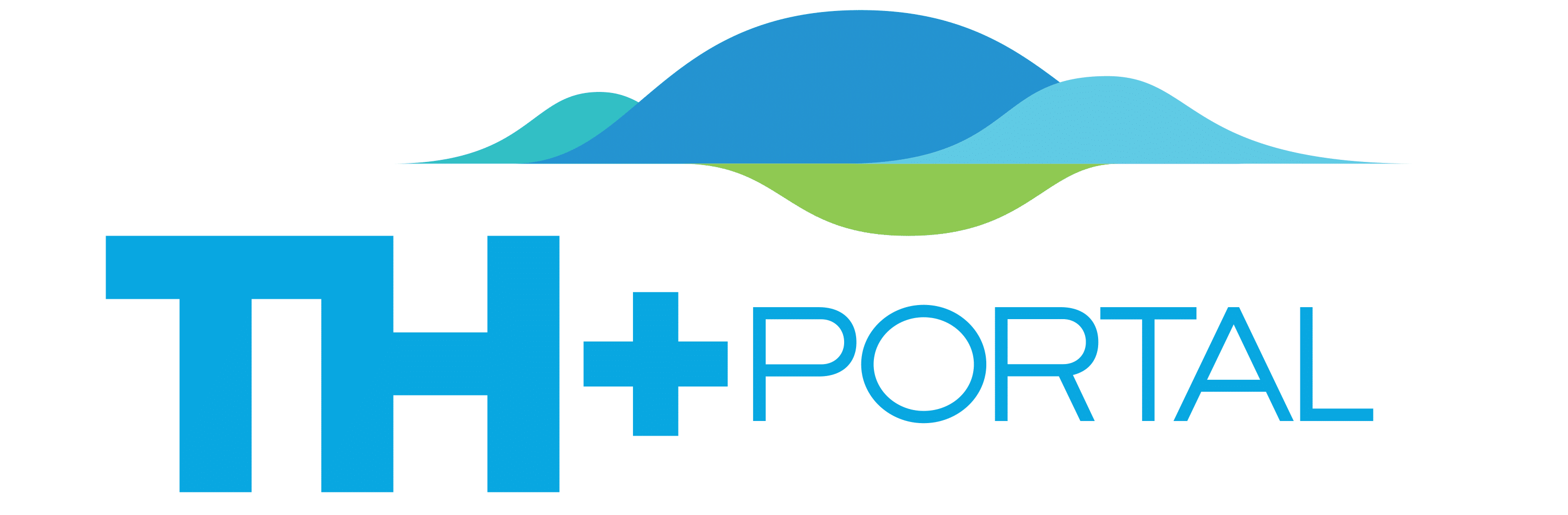Propomos uma discussão conceitual sobre o modo como definimos e chamamos as coisas. As coisas recebem nomes. O nome é a palavra ou expressão que designa algo. Os nomes condicionam nosso pensamento. A palavra não é mera convenção. Por meio da palavra interpretamos, compreendemos e articulamos tudo com que interagimos na vida.
Desde antes de William of Ockham, filósofo medieval inglês radicado na Baviera, questiona-se a validade universal das palavras. Em especial, o nominalismo (ou conceitualismo) de Ockham questiona a existência de conceitos válidos universalmente (universais), pois os mesmos só existem, de fato, na mente humana. Ou seja, os universais só se tornam realidade no pensamento. E vivemos de acordo com que julgamos compreender.

Acontece que, em boa parte das vezes, as palavras são falsas. Elas nos traem, distorcem a realidade. Assim, nosso pensamento se torna vazio, sem lastro. Como dizia José Ortega y Gasset, filósofo espanhol cuja obra remonta à primeira metade do século XX, “esse pensar em oco e a crédito, esse pensar algo sem pensar realmente, é o modo mais frequente de nosso pensamento.
A vantagem da palavra, que oferece um apoio material ao pensamento, tem a desvantagem de tender a suplantá-lo, e se um belo dia nos comprometêssemos a realizar o repertório de nossos pensamentos mais habituais, encontrar-nos-íamos penosamente surpresos de que não temos os pensamentos efetivos, mas só suas palavras ou algumas vagas imagens coladas a elas; e que não temos mais que os cheques e não as moedas que eles pretendem valer. Em suma, que intelectualmente somos um banco em falência fraudulenta. Fraudulenta, porque cada qual vive com seus pensamentos, e se esses são falsos, são vazios, falsifica a sua vida, rouba-se a si mesmo”.

Tratamos aqui das coisas e seus nomes, de como palavras podem distorcer a realidade, e, nesse caso específico, envolvendo um ofício pré-histórico: o de cantar.
Sempre houve cantores desde os primórdios do homo sapiens. É provável também que havia cantores mesmo antes, desde as espécies mais antigas de humanos (os diversos homo, já extintos, tais como antecessor, herectus, ergaster, floresiensis, georgicus, habilis, heidelbergensis, luzonensis, naledi, neanderthalensis, rhodesiensis, rudolfensis etc.). Por certo, todos já cantavam há milhares de anos.
O canto, como se diz vulgarmente (popularmente), deu-se sempre no gogó. Ou seja, só com a dimensão natural, com a força e plenitude da garganta, do diafragma e dos pulmões dos cantores.

Jamais houve na história das humanidades (porque nos referimos às diversas espécies) qualquer apoio tecnológico para o canto. Embora os megafones existam desde o século XVII, não temos notícias de sua efetiva utilização no canto. Já a utilização técnica da corrente elétrica, bem como a invenção do microfone, remonta aos meados do século XIX. Microfones de melhor qualidade só seriam inventados nos anos 20 do século passado, em especial por Georg Neumann (empreendedor alemão radicado em Berlim).
Só a partir de então, há menos de 100 anos, portanto, podemos falar de um novo ofício, justamente do canto praticado com microfone.

É importante diferenciar duas funções para o microfone.
Na primeira função, o microfone grava o canto. O microfone registra o som da voz no fonograma.
Já na segunda função, o microfone amplia o canto. Aqui surge um novo item inseparável do microfone, o alto-falante. O microfone capta a voz e o alto-falante amplia seu volume, incluindo-se os demais aparelhos intermediários que fazem o novo sistema tecnológico funcionar, sempre cada vez mais sofisticado e erudito.
Como a primeira função não altera a essência do canto, vamos resumir apenas a segunda função, porque se trata de uma novidade, de fato, no ofício do cantor. Por conta do microfone de palco, mesmo a voz sem volume natural pode ser reproduzida no mais forte volume artificial.
Mas nesse desdobramento histórico recente as maneiras de cantar acabaram recebendo nomes precários, tanto provisórios como alienantes.
Alguns passaram a chamar o canto com milhares de anos de história de “canto lírico”. Essa estranhíssima expressão, na verdade, não faz o menor sentido. Perguntamos: o adjetivo “lírico” diz respeito à poesia, à cena ou à lira? Sequer sabemos. Atrelado à poesia quase todo canto é. Já atrelado à cena o canto esteve desde pelo menos a tragédia grega, pois a condição teatral sempre fez parte da vida dos cantores. E, pelo que se sabe, poucos cantores no século XXI ainda se apresentam acompanhados por uma lira, instrumento bastante popular na Antiguidade, mas hoje uma raridade.
Assim, está na hora de se refutar a expressão “cantor lírico”, que mais distorce que define a essência do ofício.
Apesar da falta de sentido, por “canto lírico” se define hoje, na ditadura da opinião pública doutrinada pela indústria da cultura, tanto o canto na ópera, como na música sinfônica ou camerística, bem como quase todos os cantos de fato populares que prescindem de microfone. A expressão “canto lírico” é tanto vaga quanto redutiva na definição das reais dimensões do ofício milenar. Cantor é simplesmente quem canta. Não necessita qualquer adjetivo acoplado. Ainda mais se sua voz (sem ajuda de microfone) se faz ouvir mesmo nas grandes salas ou junto a grandes orquestras.

Outros diferenciam o tal “canto lírico” do “canto popular”, como se o canto lírico fosse sem microfone e o canto popular com microfone. Ora, aí temos um absurdo epistemológico ainda maior. O canto popular, assim definido, remonta pelo menos à geração de Herder e de Lereno, ao final do século XVIII. O canto popular sempre foi praticado sem microfone.
Ninguém cantava com microfone nas roças de antigamente, quando não havia indústria da cultura — naqueles tempos quando ainda havia folclore no mundo. Aliás, hoje, justamente por conta do agronegócio e da indústria da cultura, os folclores estão sendo extintos em quase todos os países.

A definição de indústria da cultura já foi abordada em outro artigo de nossa coluna aqui na thathi/com. Mas ainda assim talvez seja interessante reiterar o assunto, para que o leitor possa acompanhar nosso raciocínio. É uma definição importante.
A indústria da cultura é um sistema ideológico que surgiu no século XX com as novas tecnologias de comunicação de massa, impondo produtos audiovisuais e best-sellers fabricados em série e padronizados de acordo com o perfil e classes de consumidores passivos e desprovidos de espírito crítico, garantindo a sobrevivência cultural hegemônica do capitalismo no mundo globalizado.
Tal como uma igreja que diferencia fiéis de hereges, a indústria da cultura impõe mecanismos brutais de adequação e padronização. Os hereges excluídos mal sobrevivem em seus contextos sociais.
Tomemos o cuidado, contudo, de não generalizar, a priori, o cinema, o rádio, a televisão, a internet e nem mesmo a indústria fonográfica enquanto veículos demonizados. Os veículos em si podem ser utilizados das mais diversas formas. Nossa crítica contrária à indústria da cultura se deve pontualmente ao modo hegemônico como este sistema ideológico opera estes veículos.
Se nos tempos de seu surgimento, no início do século XX, a indústria da cultura ainda se atrelava à arte, ocorreu desde então um processo gradativo e constante de afastamento. Tanto que, passado quase um século, a indústria da cultura impõe de modo soberano seus próprios sistemas e já prescinde quase que totalmente da arte. Há sempre cada vez menos elementos artísticos na indústria da cultura.
A indústria da cultura não deve ser definida por seu caráter comercial, mas sim pelo esquecimento da poíesis.
Como exemplos de gêneros da indústria da cultura temos rock, funk, pop, techno, hip-hop, rap, disco, rave e world music, entre outros. Alguns gêneros são ainda mais difundidos no Brasil, como axé, pagode, sertanejo universitário, padres ou pastores cantores, cantores gospel, apresentadoras-cantoras de programas televisivos infantis etc.
O sistema ideológico da indústria da cultura, por sua condição hegemônica, como se tudo fosse claro como a luz do dia, impôs a definição de cantor como sendo aquele que canta com microfone. Assim, parece que as centenas de séculos anteriores, de ofício de cantor, jamais tivessem existido. Não deixa de ser uma postura arrogante e arbitrária em relação à arte.
Esse outro tipo de cantor, ignorado em sua rica história, aquele que tem voz de dimensão maior e canta também sem microfone, virou o tal “cantor lírico”. À indústria da cultura se soma ainda o culturalismo nihilista de nossos dias, rotulando o “canto lírico” de burguês, branco, europeu, aristocrata, elitista e esnobe, ou seja, condenando-o à extinção, numa lamentável distorção de valores. Parece que o culturalismo, sempre atrelado à indústria da cultura, detesta a arte.
Remando contra a maré, propomos aqui a expressão “cantor de microfone”, porque seria uma melhor definição para o perfil daqueles que só cantam com microfone (o tipo de canto que se tornou padrão na indústria da cultura).
Sem microfone, a voz do cantor de microfone resultaria insuficiente nos espetáculos do showbiz. No contexto dos shows da indústria da cultura — realizados não raramente para multidões ao ar livre — esta expressão que propomos, “cantor de microfone”, torna-se quem sabe mais precisa ao definir sua essência.
O volume maior da voz só é obtido por meio da tecnologia que amplifica o som a partir de sistemas complexos — típicos da erudição tecnológica dos dias de hoje — envolvendo desde os microfones (com ou sem fio, de todas as formas, mesmo os menores que quase não são vistos pelo público), até os alto-falantes (não raramente de dimensões enormes — quer dizer, os alto-falantes, não as vozes).
Estamos assim separando dois ofícios distintos, do cantor que se difere do cantor de microfone, apenas pelo volume do som? Por certo não. Há muitas técnicas e maneiras de se cantar em ambos os modos, com ou sem microfone.
Em meio a esta pluralidade de alternativas e opções, a divisão do canto e do canto com microfone, contudo, pode ser sim, quem sabe, um primeiro passo epistemológico importante. Não obstante cantar sem microfone não seja nenhuma garantia para a arte, cantar só com microfone tem sido a marca hegemônica da indústria da cultura (bem como um fenômeno impossível nos séculos anteriores à indústria da cultura).
Neste contexto ocorreram as preocupações de José Ortega Y Gasset, nos anos 20 do século passado, quando viu supostamente um microfone e um alto-falante pela primeira vez, generalizando de imediato que “o gramofone e o rádio são os novos inimigos da humanidade”. Por isso afirmamos que todo grande filósofo é também profeta. Quem sabe apreciar os múltiplos e diferenciados parâmetros da música, com sua riqueza de timbres, alturas, intensidades e ritmos, bem como todo tipo de articulação de frase e diferentes modos de cantar, talvez entenda o que se tem em mente aqui.
Repetindo, não estamos demonizando veículos (como o rádio, e o mesmo vale para televisão, cinema etc.), mas sim criticando pontualmente o modo hegemônico como estes veículos são operacionalizados pela indústria da cultura — daí a atualidade de Ortega Y Gasset.
Muito menos estamos afirmando que não pode haver excelentes cantores de microfone. Está claro que há bons e maus cantores e, do mesmo modo, bons e maus cantores de microfone. Há aqueles que sabem cantar com ou sem microfone. E aqueles que só cantam com microfone. Daí a necessária categorização, mas que não implica, a priori, numa avaliação qualitativa. Ou seja, não dizemos que um seja pior nem melhor que o outro, apenas tratamos de diferenciar suas essências.
Concluindo, já é tempo de abandonarmos a expressão “cantor lírico”. Cantor é aquele que canta, tanto na arte como na arte popular.
Podemos chamar de cantor de microfone algumas versões estilizadas da música popular, bem como todo caso de indústria da cultura, onde o cantor só canta com microfone (e aí, inclusive, nem é a voz que mais interessa no contexto do showbiz).
Já é tempo também de diferenciar melhor arte e indústria da cultura. Do mesmo modo que entre o canto e o canto com microfone, não há hierarquia qualitativa entre a arte e a indústria da cultura. Não afirmamos que a indústria da cultura, que pode ser tanto bela quanto útil para tantos, seja ruim, e que a arte seja boa. Apenas afirmamos, com Horkheimer e Adorno, que na indústria da cultura há uma “liberdade para o sempre igual”. Na arte, contudo, temos antes um ensaio para a diferença.

A indústria da cultura é mimética, com a imitação de parâmetros musicais reduzidos a clichês enrijecidos. Com a invasão cultural se assimila assim um processo de colonização de mão única, adequada pelo marketing a padrões correspondentes a cada tribo de consumidores.
Já a arte é poética. Trata da elaboração da obra por meio da liberdade inventiva, para que cada nota musical seja concebida e executada de modo diferenciado.