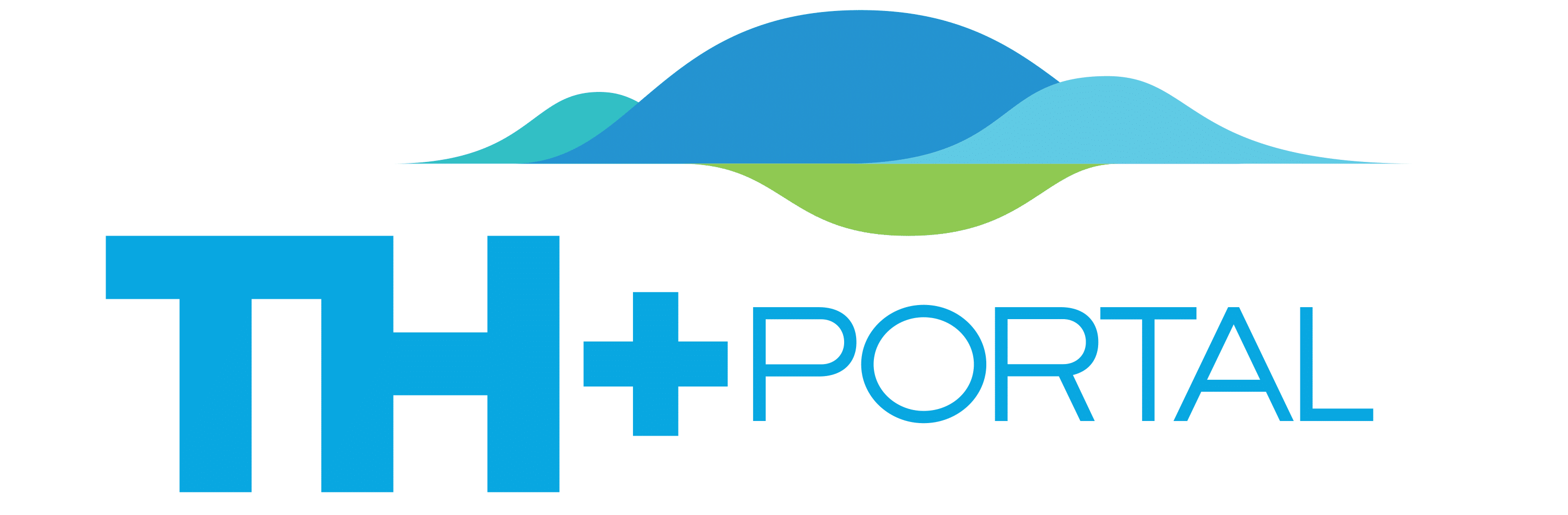Eduardo Costantini é um caçador de joias. Ao bilionário argentino não interessa qualquer obra, mas “a obra”. Quem diz é o galerista Thiago Gomide, que vendeu a ele a mais recente peça brasileira de sua extensa coleção de arte latino-americana, a escultura “Cobra Grande”, feita há 80 anos pela primeira surrealista do país, Maria Martins.
A lenda amazônica que funde humano, vegetal e animal era a última da série da artista, que ainda residia em terras nativas. A partir de setembro, no entanto, a obra estará a alguns milhares de quilômetros de distância, exposta nas galerias do Malba, o Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires.
No andar de baixo, senta o homem de 76 anos que deu origem a tudo, bem no centro de qualquer extremo: nem ostentoso nem simples demais, nem colorido nem opaco demais, nem emocionado nem rígido demais. Não sobra nem falta nada, como descreveu o jornal La Nación ao entrar na mesma sala sete anos antes.
Foi com essa exatidão que Costantini garimpou, três décadas atrás, uma das maiores joias de seus 50 anos como colecionador, o “Abaporu” de Tarsila do Amaral. “Não tem preço, não se pode vender essa obra”, diz ele em tom sempre moderado. “É um ícone da cultura brasileira, fundou todo um movimento [antropofágico], as crianças o aprendem na escola.”
Bem, como economista e empresário dos ramos financeiro e imobiliário, ele tem um palpite. Estima que hoje o quadro valha uns US$ 50 milhões, cerca de R$ 250 milhões, quase 40 vezes mais do que gastou em 1995. Na época, seu ex-dono Raul Forbes não encontrou compradores no Brasil e o levou a um leilão em Nova York.
O argentino gosta da parte anedótica da história. Foi convidado pelos brasileiros que superou no arremate para festejar com champanhe e foie gras no quarto do hotel, antes que o escândalo midiático estourasse. “Muitos brasileiros dizem que é uma valorização de Tarsila [ter sido levada ao Malba]”, responde ao ser provocado sobre a sua retirada do país de origem.
Ele não vê muito sentido na nacionalização de determinados artistas ou obras, ou seja, que o governo proíba sua exportação. Projeta o que seria de Frida Kahlo se ela nunca tivesse deixado o México e defende que é uma “faca de dois gumes”, já que no mundo do colecionismo a lógica é de troca: se as telas não podem sair, também não vão entrar.
Argumenta ainda que “Abaporu” foi doada por ele ao museu uma instituição sem fins lucrativos, vive exposta ao público e sempre foi emprestada ao Brasil com prioridade, como em 2019 ao Masp. Para além da obra-prima, ele nunca deixou de comprar arte brasileira em suas cinco décadas como colecionador, assessorado por uma equipe de consultores e amigos.
“O projeto era construir um acervo muito bom de arte latino-americana, do modernismo à atualidade. Nesse caminho, a estratégia sempre foi buscar obras capitais de diversos países, e dentro disso, obviamente, um dos países fortes é o Brasil”, diz, acrescentando que vê uma grande valorização da região nos últimos anos.
Hoje, são 37 obras nacionais em sua coleção privada e mais 68 no acervo do Malba a segunda maior nacionalidade atrás da Argentina. “Costantini na minha opinião é o maior colecionador do nosso continente. É o único que busca entender a gente como um todo”, comenta o galerista Gomide.
Entre as aquisições mais recentes, compradas numa leva generosa durante a pandemia, estão também a pintura “Urso”, de Vicente do Rego Monteiro e exposta ao lado de “Abaporu”, e a escultura “Tocadora de Banjo”, de Victor Brecheret, ambas materializações do modernismo da década de 1920.
Já os quadros “Elevador Social”, de Rubens Gerchman, e “Maquete para o Meu Espelho”, de Antonio Dias, retratam os anos 1960 na perspectiva latino-americana. Os dois foram roubados num golpe milionário que virou escândalo no ano passado, aplicado pela filha de um falecido colecionador à sua própria mãe no Rio de Janeiro. “Como eu ia imaginar? Isso nunca me aconteceu”, lamenta ele.
Elas estavam entre as 21 obras chave da região que o argentino arrematou naquele ano por US$ 25 milhões, R$ 125 milhões em valores atuais, padrão que o faz ser considerado um colecionador corajoso com os preços. Desbancou seu próprio recorde no continente algumas vezes ao comprar telas de Diego Rivera e Frida a última delas foi “Diego e Eu”, por US$ 35 milhões, ou R$ 175 milhões.
“São obras que racham a Terra, estão acima do bem e do mal. Elas aparecem no mercado e te rompem todas as finanças, entende? Não depende de mim”, ele brinca com ar sincero, sem nunca esquecer as obras que perdeu, como “Antropofagia”, outra de Tarsila. “Se compro, acho que me matam”, se diverte.
Costantini tem outra prática que o diferencia da maior parte dos colecionadores latino-americanos. Apesar de a reportagem ter insistido para fazer esta entrevista em sua casa, onde pensou estar outras joias raras, ele assegura que todas as obras mais caras estão no Malba. É um admirador do modelo americano, baseado no que chama de responsabilidade social da iniciativa privada.
“Nos Estados Unidos é quase obrigatório ajudar. O MoMa [Museu de Arte Moderna de Nova York] já ampliou seu prédio cinco vezes, com doações de várias partes. Já nós temos uma cultura mais latina, ficamos mais ‘enfrascados’ na família. Você cumpre com os termos sucessórios, se sente reconfortado, e a sociedade ganha menos peso.” No seu caso, são nada menos que sete filhos, 22 netos e quatro bisnetos.
Diz ter aprendido com a mãe, católica devota, e o pai, advogado e contador. Não foi deles, porém, que tirou o gosto pela arte, despertado fortuitamente quando o Eduardo de 22 anos foi comprar um sorvete perto de casa e deu de cara com uma tela do argentino Antonio Berni numa galeria. Na época só deu para comprar duas menores, parcelado.
Já em 2000, mandaria erguer o Malba no que é hoje uma das áreas mais valorizadas de Buenos Aires. Agora, constrói uma segunda sede a 45 quilômetros da capital, numa cidade inteiramente desenhada por sua empresa imobiliária Consultatio. Tudo parte de um consistente projeto de vida, que ele pretende garantir que perdure quando já não estiver mais aqui.
“A contradição do ser humano é que ele quer transcender, e isso nunca vai acontecer porque somos limitados. É preciso aceitar os recursos que temos e fazer o máximo para aplicá-los. O motor disso é o amor, o entusiasmo, o interesse, a curiosidade.” De fato, é preciso muito amor para sustentar o déficit de US$ 2 milhões, cerca de R$ 10 milhões, do museu todos os anos.
JÚLIA BARBON / Folhapress