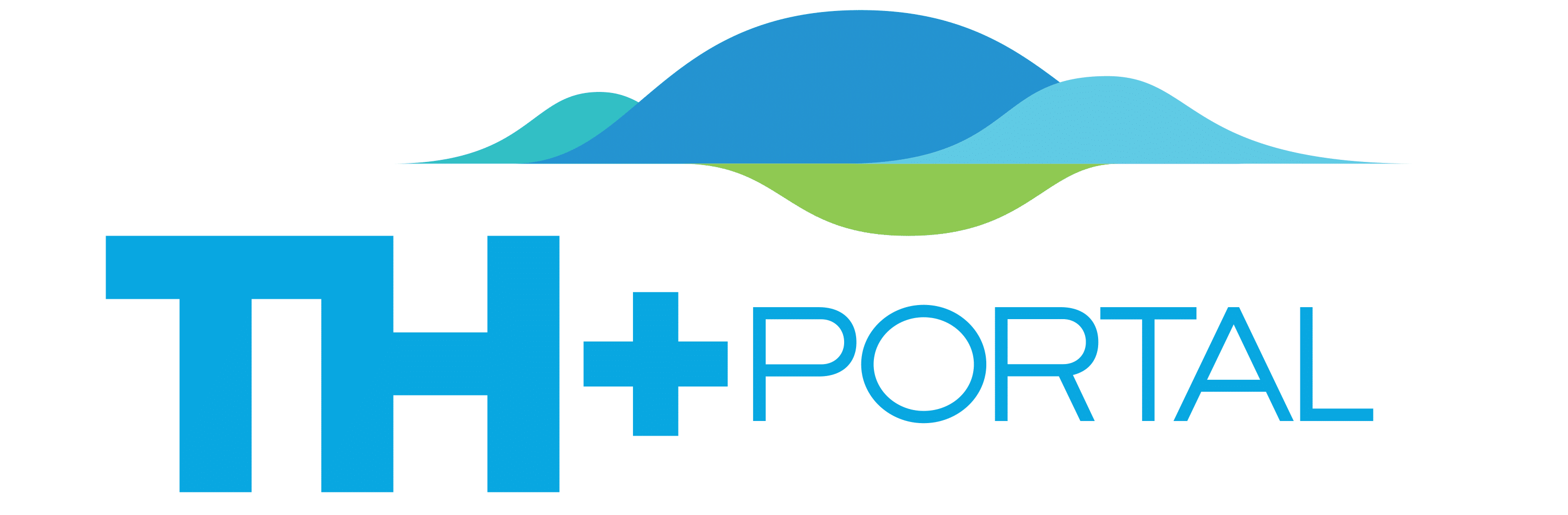SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – É mais um dia de praia no Rio de Janeiro. A areia está coberta de cangas, barracas e guarda-sóis. Banhistas correm em direção ao mar, enquanto as ondas rebentam nas rochas de um mirante, onde cinco pessoas observam mesmerizadas a paisagem ao redor.
Aqui, tudo acontece em câmera lenta sob o calor do sol e os acordes da bossa nova. Estamos, afinal, no Leblon de Manoel Carlos, autor que completou 90 anos em 2023 e se tornou um dos maiores nomes da teledramaturgia nacional ao fazer do cotidiano no Rio de Janeiro matéria-prima para seus enredos.
A cidade já virou cenário nas mãos de outros novelistas. De Gilberto Braga em “Celebridade” a João Emanuel Carneiro em “Da Cor do Pecado”, passando por Glória Perez em “O Clone” e Aguinaldo Silva em “Senhora do Destino”.
No entanto, se fossem ambientadas em qualquer outro lugar, essas novelas pouco perderiam em termos narrativos. O mesmo não pode ser dito das tramas de Maneco.
Reside na paisagem carioca parte da força de obras como “Laços de Família” e “Mulheres Apaixonadas”, no ar novamente na TV Globo.
Mais do que um pano de fundo, a ambientação atua como elemento estruturante, dando aos enredos características que tornaram célebre o estilo do autor. Isto é, a estética solar e a crônica dos dias no Leblon.
Embora não tenha respondido às solicitações de entrevista da Folha, o novelista já disse que escolheu retratar o bairro por ser um universo que conhece bem. Nessa realidade, pouco se vê o Rio de Janeiro das favelas. No lugar disso, ganha relevo as mansões e coberturas da zona sul carioca.
Mas, para além de mostrar o cotidiano da elite, as tramas de Maneco oferecem pistas para analisar o planejamento urbano da capital fluminense. Isso porque seus folhetins são a tradução televisiva do mito da cidade maravilhosa, ou seja, uma metrópole de dias amenos, natureza exuberante e céu sempre ensolarado.
“As novelas de Manoel Carlos são resultado da ideia de cidade maravilhosa, mas não inauguraram esse pensamento”, diz Alex Assunção Lamounier, professor do departamento de urbanismo da UFF, a Universidade Federal Fluminense.
O pesquisador diz que o registro mais antigo que ele encontrou desse epíteto está em uma edição de 1904 do jornal O País. A hipótese do acadêmico é que a expressão surgiu para justificar as reformas urbanas que a prefeitura realizava no começo do século 20.
As mudanças buscavam “civilizar” a então capital do Brasil e fazer dela uma espécie de Paris dos trópicos. “Uma cidade civilizada tinha um traçado retilíneo e não colonial. Fizeram então grandes avenidas, ruas largas e bem ventiladas”.
Em meio a esse processo, o poder público demoliu os cortiços em que a população negra e pobre morava na região central. Influenciadas pelo racismo científico, as autoridades da época consideravam que essas habitações eram vetores de epidemias e fontes dos chamados vícios morais, como alcoolismo e promiscuidade.
“Ex-escravizados e pessoas de pele não branca foram expulsas de suas casas em um processo de higienismo étnico e social”, diz Lamounier.
É nesse contexto que a ideia de cidade maravilhosa começa a emergir. O pesquisador afirma que a expressão foi uma forma de propagandear a reforma urbana e convencer a população sobre a necessidade das mudanças.
“É como se dissessem: ‘Estamos deixando a era das epidemias para trás. Agora, vamos ser uma cidade saudável”, diz o acadêmico, acrescentando que o epíteto teve grande influência no planejamento urbano carioca.
De acordo com ele, as regiões que se enquadravam nessa ideia receberam mais investimentos públicos. “O conceito de cidade maravilhosa norteou o desenvolvimento de uma área eleita”, diz o pesquisador. “Os pontos de maior renda estão justamente na faixa litorânea.”
A zona sul do Rio é considerada a região mais nobre da capital e praticamente uma personagem nas novelas de Manoel Carlos, tão presente nos enredos quanto suas tradicionais Helenas.
Na ficção e na realidade, morar perto da praia é um elemento de distinção social. Não à toa, os dois metros quadrados mais caros da cidade são Leblon e Ipanema, ambos banhados pelo oceano Atlântico.
Também não parece um acaso que as Helenas mais famosas de Maneco morem no Leblon. Quanto mais próximo do mar, mais perto do status e do privilégio. Mas nem sempre foi assim.
Até o começo do século 20, os bairros praianos do Rio eram areais isolados do resto da cidade habitados não pela elite, mas por pescadores. Com a chegada da República, a vida à beira-mar se torna aos poucos símbolo de modernidade.
“É um processo lento que demandará empenho de certos grupos sociais para convencer as pessoas de que a praia é um lugar chique”, diz a pesquisadora Julia O’Donnell.
Ela é autora de “A Invenção de Copacabana”, obra que analisa como se deu a valorização do balneário carioca -processo que foi capitaneado por três agentes.
Investidores compravam grandes lotes de terra em áreas praianas para a aristocracia morar, a exemplo do que ocorria na Europa, onde esse grupo ocupava as praias desde o fim do século 19.
Em paralelo, o estado beneficiava a especulação imobiliária com obras de melhoramento e integração dos bairros atlânticos à malha urbana.
Por fim, a imprensa ligada à elite propagandeava os benefícios da vida litorânea, dizendo que ela era moderna, saudável e civilizada.
O’Donnell afirma que o desenvolvimento de bairros como Leblon e Ipanema não foi um fenômeno aleatório, mas fruto dessa campanha de valorização do litoral, o que ela chama de projeto praiano-civilizatório.
“A praia entra como um elemento importante no projeto de fundar um país moderno”, diz a acadêmica, professora do departamento de antropologia da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro.
“Ao apresentá-la como a possibilidade de viver uma vida elegante e exclusiva, mostra-se também as vantagens de uma nova forma de civilização.”
Essa campanha deu tão certo que deixar o subúrbio e morar na zona sul, especialmente em Copacabana, virou meta de muita gente por ser um símbolo de ascensão social.
Em “A Utopia Urbana”, o antropólogo Gilberto Velho diz que o bairro saiu de 17,8 mil habitantes em 1920 para 250 mil em 1970. Enquanto a cidade cresceu cerca de 240% no período, Copacabana viveu uma explosão demográfica de 1.500%.
No entanto, à medida que a população aumentava, o bairro perdia a sua atmosfera de exclusividade. “Começaram a reclamar que havia muita mistura e que o local estava sendo invadido”, diz O’Donnell. “Eles acabaram vítimas do próprio sucesso.”
Sintomático da decadência simbólica de Copacabana é o fato de Maneco ter escolhido o bairro como o endereço de uma das personagens pobres de “Mulheres Apaixonadas”.
Interpretada por Vanessa Gerbelli, Fernanda é uma ex-prostituta que tem dificuldade para pagar as contas e chega a ter a luz cortada por falta de pagamento.
Leblon e Ipanema fizeram um movimento contrário, ou seja, elitizaram-se apostando em uma urbanização restrita. “É sempre uma busca por privilégio e exclusividade”, diz O’Donnell.
O crescimento das favelas, porém, era considerado um empecilho a essa busca por exclusividade. Surgidas do Rio no final do século 19, elas se espalharam pelo centro como alternativa de moradia a quem havia perdido a casa durante a demolição dos cortiços.
Sem demora, a elite, a imprensa e o poder público começaram a tratar os morros do mesmo modo como tratavam os cortiços. Isto é, como vetores de doenças físicas e morais que deviam ser eliminados.
“É mister que se ponha paradeiro imediato, se levante uma barreira profilática contra a infestação avassaladora das lindas montanhas do Rio de Janeiro pelo flagelo das favelas, lepra estética”, diz um artigo de 1926 do jornal Correio da Manhã.
Governador de 1960 a 1965, o jornalista Carlos Lacerda sistematizou a “desfavelização” da capital e passou a remover comunidades da zona sul.
“Removemos até algumas que existiam em terrenos muito valorizados, onde fazer casinhas populares representava um tamanho desperdício que seria um crime contra o pobre”, escreveu ele em um livro que reúne seus depoimentos.
As remoções se aprofundaram após a assinatura do AI-5, período em que a ditadura eliminou de forma truculenta a resistência dos moradores. De 1962 e 1974, 139 mil pessoas foram removidas, sendo que 64% das remoções aconteceram depois de 1968, segundo o livro “Passa-se uma Casa”, da socióloga Licia do Prado Valladares -pioneira no estudo sobre as remoções.
“Esse processo foi causado pela construção histórica do morador de favela como alguém sem direitos”, diz Mario Brum, professor do departamento de história da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
O pesquisador diz que esses espaços foram estigmatizados já em sua origem por serem vistos como um lugar de pessoas negras. “Era enunciado nos documentos do Estado que a favela era irregular, ilegal e anormal.”
Um exemplo disso pode ser encontrado no primeiro recenseamento dessas localidades, divulgado em 1949 pela prefeitura do Rio. O censo constata que 71% dos moradores das comunidades eram negros, dado que é explicado por argumentos racistas.
“Hereditariamente atrasados e desprovidos de ambição e mal ajustados às exigências sociais modernas, fornecem em quase todos os nossos núcleos urbanos os maiores contingentes para as baixas camadas da população”, diz o documento.
Brum afirma que havia grande número de favelas na zona sul e, por consequência, um contingente relevante de pessoas negras naquela região. “Ao removê-las, promoveram um processo de limpeza étnica na zona sul do Rio de Janeiro.”
Após serem retiradas de suas casas, as pessoas eram transferidas para conjuntos habitacionais distantes da zona sul, como Vila Kennedy e Cidade de Deus -localizados na zona oeste da cidade.
Em 1969, a psicopedagoga Denise Nonato foi encaminhada com a família para a Cidade Alta após ter sido retirada da favela Praia do Pinto. A comunidade, que ficava entre o Leblon e a Lagoa, foi destruída por um incêndio que moradores consideraram criminoso.
“Foi um período muito difícil”, diz Denise. “O apartamento que deram estava um caos. Não tinha porta, janela, pia nem vaso sanitário.” As dificuldades também eram causadas pela falta de serviços públicos no conjunto habitacional. “Não tinha escola, mercado nem médico. Mas havia posto de polícia. Isso tinha.”
Ela lembra também que a mudança prejudicou a saúde financeira e o bem-estar de sua família. Costureira, a avó perdeu os clientes; a mãe passou a acordar de madrugada para trabalhar na zona sul. “A gente se sentiu desamparado. É uma sensação de ter sido largado e jogado sem ter a quem recorrer.”
Para Brum, o professor da UERJ, esse processo deu origem a uma série de problemas sociais que ainda estão presentes na cidade. “A herança das remoções é um Rio de Janeiro desigual, elitizado e segregado racialmente.”
A visão de cidade partida entre morro e asfalto pode ser vista à perfeição em “Viver a Vida”, novela de Maneco lançada em 2009. Um dos enredos se passa em uma favela, cuja fotografia azulada contrasta com o tom solar dos outros cenários.
Isso fica evidente já no primeiro capítulo, que começa numa praia de céu dourado. De repente, num corte seco, as imagens paradisíacas saem de cena e vemos a polícia perseguir um casal pelas vielas de uma comunidade. O vigor do amarelo dá lugar à melancolia do azul.
É como se a fotografia materializasse a separação simbólica que existe entre morro e asfalto, num esforço de mostrar ao telespectador que aquela é uma região que destoa do resto da trama. No folhetim, a cisão não é apenas social, mas também estética.
“Tento demonstrar conceitualmente o que sinto no morro, essa diferença de ambiente”, disse em 2010 Jayme Monjardim, diretor da novela.
As cenas na favela de “Viver a Vida” foram gravadas no morro Dona Marta, em Botafogo, zona sul do Rio, e não no Leblon. Mas isso não quer dizer que no bairro de Manoel Carlos só haja espaço para a elite. A comunidade Cruzada São Sebastião é uma prova disso.
Trata-se de um conjunto de dez prédios populares fundados em 1955 para receber moradores removidos da favela Praia do Pinto.
“A gente costuma falar que a Cruzada é uma grande família”, diz Raquel Moreira, fã das novelas de Maneco e presidente da associação de moradores do conjunto, onde moram cerca de 5.500 pessoas.
Ela afirma que o local é pacífico, mas que durante muito tempo foi visto como um problema pela vizinhança.
“Éramos considerados uma população favelada, de baixa escolaridade e em sua maioria negra”, diz a líder comunitária. “Existia um preconceito muito forte. Falavam que a gente era o câncer do Leblon.”
Moreira diz que a relação com os vizinhos melhorou à medida que a Cruzada venceu os estigmas por meio da arte e do esporte. “Os moradores são pessoas de bem e a comunidade é parte deste bairro”, diz ela. “A gente sempre deixou isso bem claro. Nós também somos parte do Leblon.”
MATHEUS ROCHA / Folhapress