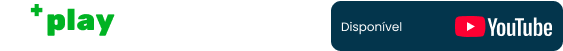SÃO CARLOS, SC (FOLHAPRESS) – As crianças da família Giani estavam brincando no quintal de casa, no Bom Retiro, quando a granada caiu. Com a explosão, não sobrou quase nada do corpo de Lúcia, de 12 anos. Pedro foi levado para a Santa Casa, mas morreu alguns dias depois. Os médicos precisaram amputar o pé de Vítor. A mãe das vítimas ainda amamentava as filhas gêmeas e, quando seu leite secou pelo efeito psicológico da tragédia, as meninas também morreram.
Situações parecidas destroçaram outras famílias em vários outros bairros de São Paulo ao longo de julho de 1924, mês no qual a cidade foi tomada por uma rebelião de jovens oficiais do Exército contra o então presidente da República, Arthur Bernardes.
A quartelada colocou a capital paulista sob cerco e a transformou no alvo de bombardeios indiscriminados das tropas leais ao governo federal.
Na contagem oficial, mais de 500 moradores, muitos deles imigrantes e de famílias humildes, acabariam morrendo no fogo cruzado. Os rebeldes, que exigiam reformas modernizadoras e democratizantes na base da bala, abandonaram a capital e acabariam se juntando a outras forças revoltosas no Rio Grande do Sul.
Combinados, os dois grupos dariam origem à chamada Coluna Prestes, e parte de seus líderes enfim conseguiria derrubar o governo da República ao lado de Getúlio Vargas em 1930.
O bombardeio a São Paulo foi, em certo sentido, mais um sintoma de que as alianças políticas que tinham governado o Brasil desde o fim do Império, em 1889, tinham se tornado disfuncionais.
Durante a maior parte desse período, o país tinha sido controlado pela chamada “política do café com leite”, uma aliança em que paulistas (representados pelo café) e mineiros (o leite) se revezavam na Presidência.
O apoio da elite dos demais estados do país era obtido por meio da garantia de que o governo federal não meteria seu nariz na política estadual inclusive na hora de garantir a lisura das eleições.
O resultado foi um sistema oligárquico, com eleições constantemente fraudadas para manter os suspeitos de sempre no poder nos estados e os mineiros e paulistas que eles apoiavam no Palácio do Catete (então a residência oficial dos presidentes da República, no Rio de Janeiro).
Rachaduras nesse edifício começaram a surgir entre o final dos anos 1910 e o começo dos anos 1920. Por um lado, a elite de alguns estados fora do eixo São Paulo-Minas (como o Rio Grande do Sul e a Bahia) começou a ficar descontente com o arranjo que lhes concedia poder apenas em nível local.
Por outro lado, alguns dos filhos da pequena classe média urbana, que entravam nas escolas de formação de oficiais das Forças Armadas enxergando nisso um caminho para a ascensão social, queriam mudanças.
Enxergavam os velhos conchavos da política como uma barreira para o seu progresso pessoal e para o avanço do país.
As Forças Armadas, por outro lado, seriam um ambiente meritocrático e não corrompido, segundo o oficialato. E, como a própria República tinha sido criada basicamente graças a uma rebelião militar contra o Império, havia mais uma justificativa para que as Forças Armadas se vissem como tuteladoras do regime.
No começo dos anos 1920, essa insatisfação foi se catalisando em torno da figura do marechal Hermes da Fonseca, que já tinha sido presidente e era visto por parcela expressiva dos militares como alguém que poderia acabar com a hegemonia “café com leite” disputando as eleições novamente.
O marechal, porém, hesitou diante da possibilidade de voltar à política, e a chapa alternativa que tentou enfrentar os governistas no lugar dele também foi derrotada. Foi eleito para a Presidência o governador de Minas Gerais, Arthur Bernardes.
Aos 47 anos, era uma figura fria e sisuda. “Apreciava latim, a norma culta da língua portuguesa e a religião católica. Não apreciava senso de humor”, escreve o jornalista Rodrigo Vizeu em seu livro “Os Presidentes”.
O problema é que cartas atribuídas a Bernardes e publicadas na imprensa desancavam Hermes, chamando-o de “sargentão sem compostura”. Foi a deixa para que jovens oficiais, já descontentes com os rumos da política federal, tentassem impedir a posse do mineiro numa revolta que se apossou do Forte de Copacabana e outras instalações militares do Rio em julho de 1922.
Eles foram rapidamente derrotados, com poucas baixas de ambos os lados, mas alguns dos chamados “tenentes”, como ficariam conhecidos, sobreviveram à primeira revolta e começaram a planejar a seguinte.
A justificativa vinha de medidas de Bernardes, que declarou estado de sítio e amordaçou a imprensa durante seu mandato.
O plano foi posto em prática exatos dois anos mais tarde, com liderança de figuras como Joaquim Távora e Eduardo Gomes, veteranos da revolta anterior, e de um general da reserva, o gaúcho Isidoro Dias Lopes. O grupo contava ainda com o apoio de oficiais da Força Pública paulista (ancestral da Polícia Militar de hoje).
São Paulo, como segunda maior cidade do país e centro industrial, era considerada estratégica pelos conspiradores. A cidade ainda estava longe de se tornar a megalópole de hoje. Somava cerca de 700 mil habitantes, dos quais mais de 200 mil fugiriam com a deflagração da revolta.
Cerca de 20% dos moradores eram imigrantes, em especial italianos e espanhóis. A população se concentrava no atual centro e em bairros vizinhos, embora já houvesse núcleos em expansão nas atuais zona leste e zona sul, por exemplo.
Depois de se apossarem de quartéis do Exército e da Força Pública na madrugada de 5 de julho, os revoltosos (ou revolucionários, como se autodenominavam) conseguiram capturar o general Abílio de Noronha, comandante da Segunda Região.
“Senhor general, esteja preso em nome da revolução vitoriosa”, declarou a ele o capitão Joaquim Távora. O grupo também tomou o controle da estação da Luz, crucial para a malha de transportes paulista.
O próximo passo foi o ataque ao Palácio dos Campos Elíseos, na época a sede do governo do estado. Forças legalistas resistiram, mas o governador Carlos de Campos acabou decidindo abandonar a cidade em 9 de julho.
Aparentemente vitoriosos, os rebeldes lançaram um manifesto à população, culpando o autoritarismo de Bernardes pela “revolução”. Ao mesmo tempo, porém, a cidade, isolada, já sofria com o desabastecimento, e começavam a ocorrer saques.
Em suas memórias, o jornalista Tito Batini conta que, embora precisassem de comida, ele e seus amigos se atrapalharam na hora de participar.
“Não tínhamos recipientes para encher. Diabo! Falta de prática”, teria praguejado. Por fim, eles usaram os paletós como sacolas, dando nós nas mangas, além de encher os bolsos das calças e os chapéus com comida saqueada.
No dia 11, começaram os bombardeios contra São Paulo, sem que o Exército tentasse atacar de forma mais precisa os quartéis dos rebeldes. “Atirou-se a esmo”, reclamou até mesmo o general legalista Abílio de Noronha.
“Uma bateria em posição com alça de 9.500 metros a abrir fogo sobre uma das mais belas praças de São Paulo, fogo este que absolutamente não poderia ser controlado por um posto de observação.”
A salvo do bombardeio, Carlos de Campos não parecia preocupado. “Estou certo de que São Paulo prefere ver destruída sua formosa capital antes que destruída a legalidade do Brasil”, declarou ele a Arthur Bernardes. Era o que o presidente queria ouvir. “Se São Paulo for destruída ao preço da conservação do império da lei, essa destruição está justificada”, disse ele.
Diante dessa intransigência, foram inúteis os apelos do arcebispo de São Paulo, dom Duarte Leopoldo, para que os bombardeios parassem ou para que o abastecimento fosse retomado de alguma forma. Igrejas e cinemas passaram a abrigar a população que perdera suas casas ou que não tinha porões onde se esconder. Logo, porém, esses locais começaram a ser atingidos, com mais mortes de civis.
Após várias tentativas de negociação, combates nas ruas e bombardeios aéreos, os rebeldes enfim abandonaram a cidade na noite do dia 27 de julho (3.500 homens fugiram de trem).
Segundo o jornalista Pedro Dória, autor do livro “Tenentes: A Guerra Civil Brasileira”, parte do lado quixotesco das revoltas de 1922 e 1924, quando jovens oficiais se rebelaram mesmo sem apoio amplo do resto do Exército, pode ser atribuída ao fato de que o Brasil não participou dos combates na Primeira Guerra Mundial.
Ouvindo histórias de heroísmo e idealismo no confronto, os “tenentes” sentiam que teriam “perdido a vez” se não combatessem no Brasil. Grande parte deles acabaria se unindo a Getúlio Vargas no processo de tomada do poder. E alguns, bem mais tarde, também participariam do golpe militar de 1964.
REINALDO JOSÉ LOPES / Folhapress