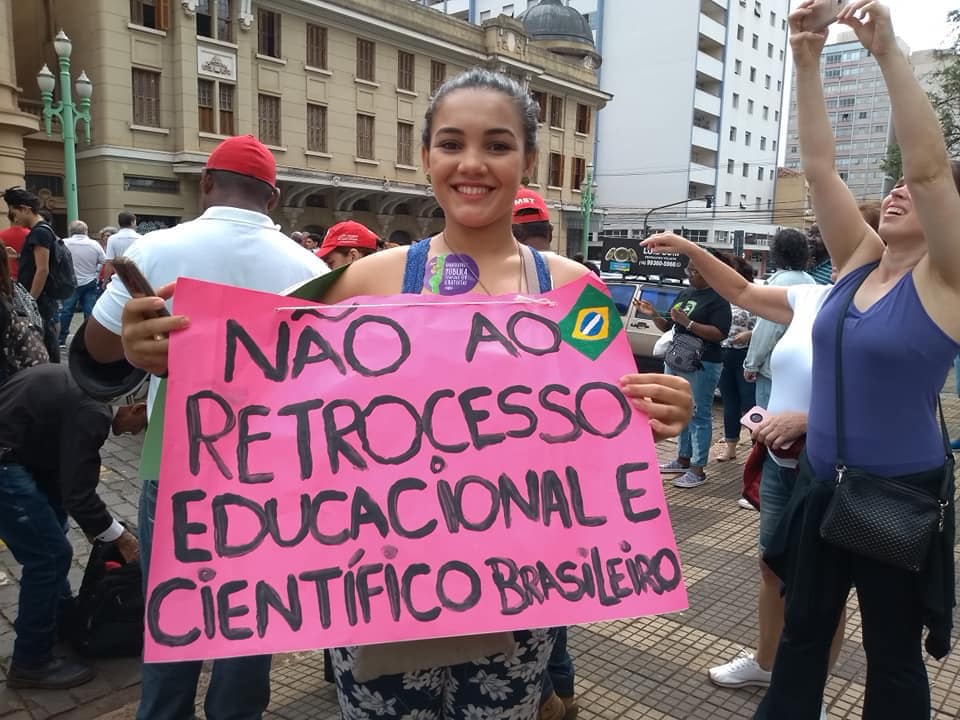O filósofo Mark Fisher trabalha, em sua obra o conceito de hauntology, um termo emprestado de Derrida e que significa uma espécie de ontologia do espectro que dominaria o pensamento ocidental contemporâneo. Um dos últimos estudos do filósofo francês, Derrida utiliza-o para se referir à situação da esquerda, que invariavelmente é ainda assombrada pelo espectro de Marx – uma alusão ainda ao espectro do comunismo que segundo o alemão, rondava, ou ainda ronda a Europa.
Já Fisher, inglês, busca compreender toda a condição humana sob essa ótica, no que, então, o que ocorre com a esquerda não é um fenômeno exclusivo e nem se dá apenas no espectro de Marx. O espectro seria, na verdade, o próprio passado e a história que hoje, mais do que nunca, não se deixam morrer e vão ocupando todos os meios de manifestação cultural e comunicação de massas na civilização ocidental – é a consequência cultural imediata do capitalismo, que não só produz uma massiva dessacralização das culturas humanas a fim de equalizar seus valores, bem como é, na verdade, incapaz de criar algo que não contribua única e exclusivamente para sua própria eficiência. Como diz Fisher, “capitalismo é o que resta quando as crenças colapsaram no nível de elaboração simbólica ou ritualística, e tudo o que resta é o consumidor-espectador, vagando pelas ruínas e relíquias.”
O espectro pode ser sentido, estranho como deve ser perceber um espectro, em quase qualquer manifestação cultural humana contemporânea, mas principalmente, nas mais populares. Fisher utiliza-se de exemplos musicais para colorir seu argumento, tendo escrito a maior parte de sua obra há mais ou menos dez anos, antes de cometer suicídio. É verdade que a experimentação é mais fácil na música, mais passível de uma compreensão, e até mesmo de uma correção, do que no cinema; é a arte mais abstrata. Mas não tardou, não mais que uma década, para o espectro assombrar também o audiovisual. Porém antes de chegar ao tempo presente, vejamos os exemplos de Fisher, delineados em seu Ghosts of My Life: Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures, publicado em 2014.
O primeiro exemplo de Fisher para evidenciar esse congelamento do tempo é o conceito de música futurista. Nos anos 70, o que era chamado de música futurista era coisa como o Kraftwerk. Hoje, em 2019, o que se faz referência quando quer se falar em música futurista é… Kraftwerk. As épocas tornaram-se paletas de cores, fontes de escrita, qualquer época e até mesmo o futuro; é como se vivêssemos na ressaca de um interminável século XX. Seu segundo exemplo são os Arctic Monkeys: Fisher diz que quando viu pela primeira vez o videoclipe de I Bet You Look Good On The Dancefloor, acreditou tratar-se de uma gravação perdida de alguma banda indie dos anos 80.
O visual bate perfeitamente com o som, e essa gravação, de 2005, provavelmente poderia se passar por uma música contemporânea em 1980, coisa que uma música de 1993 seria incapaz de fazer, provavelmente surpreendendo, senão transtornando a audiência. E ainda com às menções a 1984 nas letras passando-se, da mesma forma que para nós, como referências ao futuro. Seu terceiro e último exemplo é a canção Valerie, de Amy Winehouse. Fisher diz tê-la ouvido pela primeira vez num shopping, provavelmente o local ideal para consumi-la. O primeiro pensamento que passou por sua cabeça foi ‘Ah, claro. A versão dos Zutons é um cover desse clássico do jazz.’ Mas não, é a de Amy que é um cover da original de 2006 gravada pela banda indie The Zutons, enlatada nessa estética envelhecida que é a especialidade de seu produtor Mark Ronson – responsável também pelo segundo maior hit dos anos 10 até agora, Uptown Funk, de 2014. O primeiro lugar fica ainda com Get Lucky, de 2013, em que o Daft Punk deu vida à música atemporal por definição.

É o mesmo que ocorre hoje com os infinitos remakes da Disney, onde está seu Rei Leão do século XXI? Ainda é o Rei Leão, e ainda que a coisa possa funcionar no meio musical, afinal, não está em bom dia quem hoje questione o valor artístico dos Arctic Monkeys ou da Amy Winehouse, o mesmo não pode ser afirmado sobre as “últimas” de Hollywood. Como dito, é a música a expressão mais abstrata, sendo o audiovisual, em comparação, grosseiro; essa repaginação sumária não consegue passar ilesa aqui. Torna-se, não é?, visível o que está sendo feito, e logo pode começar a se sentir o cheiro da coisa, levemente putrefato.
Até mesmo no caso da música, ainda que sua performance do anacronismo seja eficiente, as melhorias nas técnicas estão presentes, e é exatamente isso o que faz com que a coisa invariavelmente aparente estranha, com as texturas indicando que pertencem, os Arctic Monkeys e a Amy Winehouse, não aos anos 80 ou 60, tampouco a 2005, mas sim um eterno 1980 e um eterno 1960, respectivamente. No caso do cinema, essas inovações técnicas levam a coisa além do reconhecimento – ou há um hiper-reconhecimento, na verdade, que é o hoje já ocorre também na música pop em casos como o da banda Greta Van Fleet, o que impede a coisa de sequer adquirir uma identidade.
Vamos lá, é plausível acreditar num leão, num suricato e um javali cantando e dançando juntos, quando são desenhos. Quando a ideia é fazer parecer que são reais, o único pensamento razoável é “por que o leão não está comendo eles?”. A cena em que Rafiki encontra Simba, por exemplo, no original é engraçada e profunda, além de visualmente deslumbrante, com a coloração de um azul vibrante que torna os tons escuros do Rei Leão tão marcantes. No remake não há nada disso, e mal se decide entre a reprodução de um contato animalesco entre dois bichos da selva, receosos e alertas, e uma tentativa igualmente receosa de dramatização, reduzindo assim um dos momentos mais bonitos do filme a uma cena completamente estéril e cujo significado se dá pela memória que o espectador tem da obra original.
A Disney podia ter perseguido um caminho como o de Wes Anderson, apresentando versões imperfeitas, ainda que realistas, e portanto caricatas e assim, passíveis de humanização, dos animais – mas não, saltaram logo para o grau mais realista possível, atropelando no caminho qualquer possibilidade de identificação para com os personagens, “filmando” um drama shakespeariano com texturas de documentário do Animal Planet. Não funcionou; o filme é quase uma masturbação técnica, não há qualquer motivo, tanto do ponto de vista audiovisual como do da história, para alguém assistir o Rei Leão de 2019 e não o de 1994.
E a história já se provou eficiente noutras linguagens, tendo sido um dos maiores fenômenos modernos da Broadway. Na peça, os atores utilizavam máscaras e coroas africanas para representar os animais. Mas parece que os responsáveis pelas artes das massas, que não é o caso do teatro, não têm lá uma imaginação tão grande. O Rei Leão, o Aladdin, a Bela e a Fera (em que a Fera é repugnante de tão falsa e malfeita, pelo menos), o filme da Mulan que está por vir – chegamos aos anos 90, então. E depois, vão começar a refilmar o quê? E a mera melhoria técnica realmente justifica a releitura dessas obras? Não são parte de seu valor, e na verdade, de sua identidade, seu traço e a estética temporal que no momento expressavam? Refilmar essas obras é tentar arruiná-las, ou quase; é no mínimo desrespeitoso. É claro que, tamanhas obras-primas, as originais resistem a essas ranhuras – porém não há qualquer motivo justificável para maculá-las dessa forma.

Mas é óbvio, não só os estúdios lucram bilhões com os remakes, como asseguram a continuidade de seus direitos autorais. É o capital o que explica o que vem ocorrendo com nossa cultura hoje, e por isso é duplamente lamentável: por vermos o alcance que a dessacralização das culturas chegou e por sermos informados de que não só um caso contemporâneo dessa dessacralização que é a releitura realista do Rei Leão simboliza a chegada do futuro, quando claramente representa o contrário, como também de que é uma boa obra de arte, que é bonita e emocionante, quando é, se muito, uma caricatura.
E não é que caricaturas não funcionem; está aí o é da coisa. As obras de arte, grosso modo, apenas funcionam enquanto caricaturas, enquanto representações. O problema aqui é que está se buscando descaracturizar uma caricatura, jogando-a para o nível do real, mas sem de fato conseguir, por não abrir mão da própria história, que é absolutamente irreal e jamais plausível, e apenas eficiente através, justamente, de uma caricatura. Não é possível que não percebam a flagrante inutilidade de se aperfeiçoar algo que só funciona por ser imperfeito. É esse um dos temas centrais do romance O Mapa e o Território, do francês Michel Houellebecq, lançado em 2010.
O livro conta a história de um renomado pintor, Jed Martin, que começa a carreira como fotógrafo de objetos. Logo no começo da história, Martin tem o que ele chama de uma revelação estética ao deparar-se com um mapa Michelin das estradas francesas, que ele acha sublime. Diz Houellebecq: “Nunca ele tinha contemplado um objeto tão magnífico, tão rico em emoção e significado, como esse mapa Michelin em escala 1/150.000 de Creuse e Haute-Vienne. A essência de modernidade, de apreensão técnica e científica do mundo, estava aqui combinada com a essência da vida animal. O desenho era complexo e bonito, absolutamente claro, usando apenas uma pequena paleta de cores. Mas em cada morro e vilarejo, representados de acordo com sua importância, você sentia a emoção, o apelo da vida humana, das dúzias e centenas de almas – algumas destinadas à danação, outras à vida eterna.”
Jed Martin, então, ganha a vida com uma exposição em que coloca lado a lado, reproduções dos mapas da Michelin com fotografias de satélites das mesmas áreas, e o título da exposição é O MAPA É MAIS INTERESSANTE QUE O TERRITÓRIO, que é algo que os executivos da Disney parecem discordar ou, pelo menos, desconhecer. Esse conhecimento que é o nome da exposição é um que é latente em nós, por isso realmente é questionável por quanto tempo pode se sustentar essa mentira que esses remakes tem algum valor artístico.
Me pergunto se alguém no mundo quer ver, por exemplo, uma refilmagem realista do Vida de Inseto. Acho que não; se bem feito, as pessoas iriam vomitar no cinema, provavelmente. Mas talvez fosse engraçado se fosse realmente realista, e filmassem apenas, de cima, o funcionamento de um formigueiro por meses, em tempo real. Se a Disney quer fazer documentários, que faça logo, ou pelo menos esclareçam entre eles de uma vez que existe uma gritante diferença entre mapa e território, e que se estivéssemos interessados no território, sequer iríamos ao cinema.