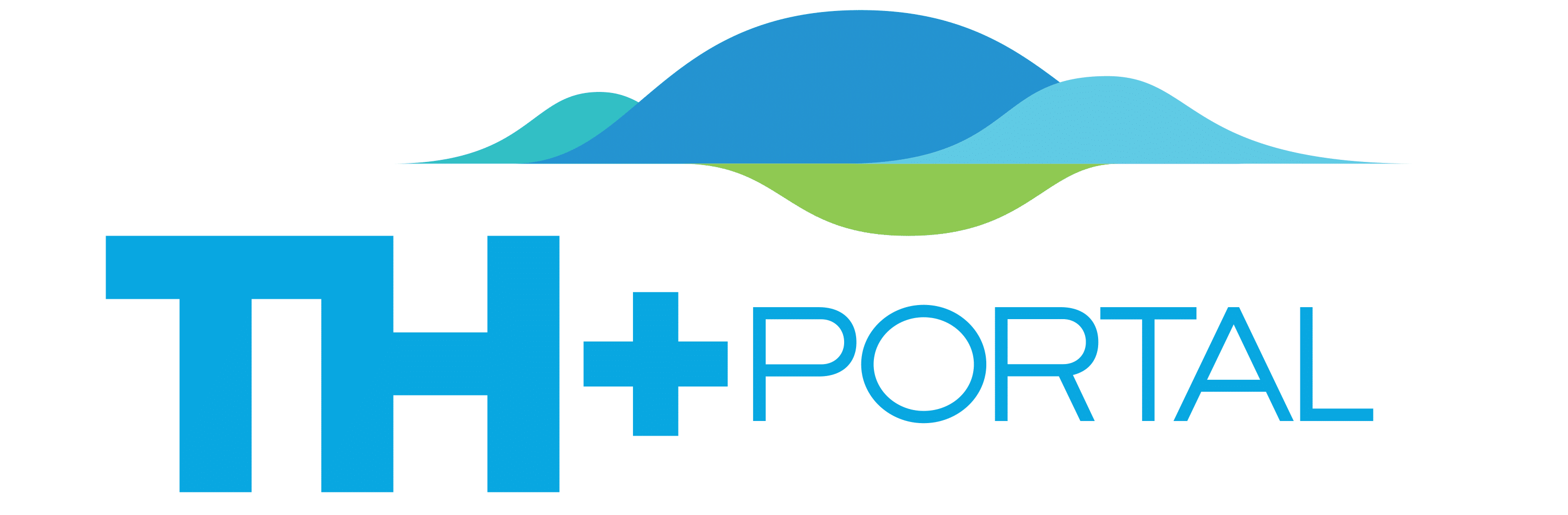FOLHAPRESS – As memórias de Al Pacino começam no cinema. Mais especificamente, em pequenas salas do Bronx, em Nova York, às quais a mãe o levava desde os três ou quatro anos. “Ela não sabia que estava me proporcionando um futuro”, escreve, em “Sonny Boy”.
O título também veio dela. Sonny Boy era o apelido, tirado da canção de um filme, pelo qual ela chamava o filho. Embora Pacino repasse toda sua carreira de sucesso na autobiografia lançada mundialmente agora, ele também a encerra com a mãe.
Aos 84 anos, Alfred Pacino olha para trás no tempo e vê, de forma nítida, a infância passada em moradias precárias, com a ausência do pai e a forte presença dos amigos de sua pequena gangue, com quem brincava flertando com a contravenção.
“De onde eu vim, estávamos sempre ou sendo perseguidos ou perseguindo”, afirma, espelhando alguns dos outsiders e gângsteres aos quais deu forma nas telas. Aquilo que um ator faz em cena, conforme ele dirá e comprovará ao longo do texto, é sempre uma expressão de sua alma.
Nas ruas do Bronx, ele era o chefão, chamado pelos companheiros de Pacchi, Pacino ou Pistache, dada a sua predileção por esse sabor de sorvete. Se a infância e a adolescência, passadas entre vielas, becos e terrenos baldios, ecoarão em muitas daquelas 320 páginas é porque o ator, até hoje, parece espantado com o fato de, daquele lugar, ter chegado aonde chegou.
Indicado nove vezes ao Oscar, ganhador de uma estatueta por “Perfume de Mulher” em 1992, Pacino conduzirá o leitor, de forma um tanto errática, mas sincera, pela trilha nada óbvia que o levou do seu bairro até os sets de Francis Ford Coppola, Brian De Palma, Sidney Lumet, Martin Scorsese e Quentin Tarantino –e aos palcos da Broadway.
A primeira porta para a atuação foi banal: as peças escolares, das quais participava para ser liberado da aula. Um dia, ao fim de uma delas, alguém disse: “Você é o próximo Marlon Brando”. Pacino nunca tinha nem ouvido esse nome. Logo uma professora iria à casa de seus avós, onde a mãe vivia, avisando que o futuro daquele menino estava na atuação.
Foi só ao assistir a uma montagem de “A Gaivota”, do russo Anton Tchékhov, no mesmo teatro onde costumava ver filmes, que ele entendeu que atuar podia, sim, ser uma profissão. Passou então a acalentar esse sonho.
O primeiro passo foi se matricular no Herbert Berghof Studio, onde teria aulas com o ator Charlie Laughton, tornado amigo de uma vida. Um de seus colegas era Martin Sheen, depois astro de “Apocalypse Now”.
Tudo que acontecerá a partir daí faz parte não só de sua história íntima, mas daquela do teatro e cinema nos Estados Unidos. Na narrativa em que seleciona momentos-chave de sua trajetória, o ator forjado pela dramaturgia de Bertolt Brecht, Oscar Wilde, August Strindberg e William Shakespeare revela detalhes de uma das grandes eras do cinema americano, nos anos 1960 e 1970, quando despontou a chamada Nova Hollywood.
Pacino já tinha sua turma e certo reconhecimento no teatro nova-iorquino quando Coppola, após vê-lo no palco, enviou-lhe um roteiro. O projeto não vingou, mas, meses depois, o diretor ligou para ele dizendo que filmaria “O Poderoso Chefão”. “Aí, Francis disse que queria que eu fizesse Michael Corleone. Pensei: agora ele foi longe demais. Comecei a duvidar que fosse ele mesmo no telefone.”
A Paramount queria Jack Nicholson, Robert Redford ou Warren Beatty para o papel. Mas Coppola queria Pacino, e assim foi. A partir da estreia do filme, tudo mudou “na velocidade da luz”.
Viriam, ao longo da mesma década, o policial de “Serpico”, de 1973, que se perguntava como, depois de aceitar um suborno, podia ouvir Beethoven; o personagem pelo qual se sentiu possuído, em “Um Dia de Cão”, de 1975; e o perturbador Tony Montana, de “Scarface”, produção de 1983 que até hoje lhe rende pagamentos residuais.
O fim do anonimato causou, no entanto, grande impacto emocional no jovem cujo caminho tinha sido tortuoso. Ainda hoje, na escrita, parece ser custoso ao ator falar sobre o que carregava em si: a fratura emocional deixada pelo suicídio da mãe, quando ele tinha 21 anos; o abuso de álcool e drogas para aplacar a timidez e os vazios; e a dificuldade de traçar qualquer plano que levasse em conta o futuro.
O texto reflete seu caos interno. A ordem cronológica é, aqui e ali, invadida pela memória que insiste em devolvê-lo para os tempos da escassez. Isso não significa que Pacino passe ao largo do glamour e dos excessos tão ligados ao imaginário sobre essa indústria.
Como autor de memórias, Pacino se mostra afetivo com todas as figuras do olimpo hollywoodiano que descreve por meio de curiosidades. Fala de atores como Brando, Robert De Niro –a quem volta com frequência–, Elizabeth Taylor, Meryl Streep, Diane Keaton, Johnny Depp e produtores como Dino de Laurentiis e Martin Bregman. Às muitas mulheres com quem se relacionou e aos cinco filhos que teve com elas, também dedica palavras amorosas.
Além das marcas de infância, o que o texto traz de mais profundo é a tentativa de compreender o próprio ofício. Pacino faz análises reveladoras do que significa buscar –e às vezes não encontrar– um personagem, do que distingue o palco do set e das disputas criativas que terminam, não raro, deixando sobre os atores a pecha de difíceis.
Têm graça suas explicações para episódios tornados conhecidos, como a recusa do papel de Han Solo em “Star Wars” –achou o roteiro estranhíssimo– e o de Billy the Kid por pensar: “Não vou subir em cavalo nenhum. Esses bichos são grandes demais”.
Fracassos, erros, crises nervosas e falências financeiras são tratados com a mesma naturalidade que os sucessos. “Neste ramo, você sobe, você está no topo, depois no fundo do poço e depois no alto de novo”, ensina.
Em uma das quedas mais vertiginosas, ele já tinha 70 anos e viu seu patrimônio, então de cerca de US$ 50 milhões, ir a zero. A lição, quem lhe deu foi um contador: “Vai lá ganhar mais dinheiro, aí você pode comprar novos amigos”.
Pacino passou a aceitar qualquer papel que lhe oferecessem, e, à altura, fez até um comercial de café. Mais uma década se passaria até que aprendesse, na marra, outra lição: “Descobri, com quase 80 anos, que é preciso se cuidar”.
Conforme o livro se aproxima do final, os fatos e palcos cedem lugar a reflexões sobre a finitude. “Esta vida é um sonho, como diz Shakespeare”, concluirá Pacino, recolocando em cena o autor que, ao lado de Tchékhov e da mãe, parece ter sempre, e para sempre, carregado dentro de si.
Sonny Boy
Quando: Lançamento em 20/10
Preço: R$ 79,90 (352 págs.); R$ 39,90 (ebook)
Autoria: Al Pacino
Editora: Rocco
Tradução: Laura Folgueira
ANA PAULA SOUSA / Folhapress