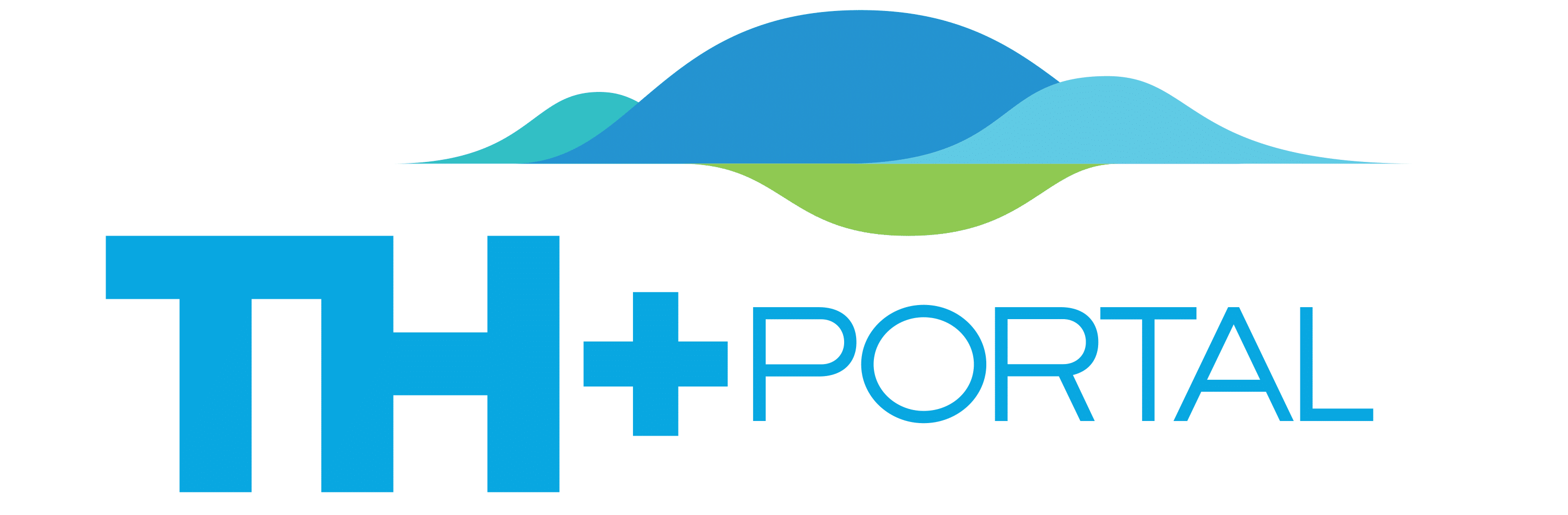SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um homem entra na sala escura, vazia, a não ser pela presença de um televisor e o reflexo de uma câmera no espelho. Ele se senta diante da lente, olhando nos nossos olhos, e grita até perder a voz. Depois é a imagem que se perde, quando ele enfia o dedo na fita que grava a própria performance, travando as engrenagens do registro em vídeo. Ele some num turbilhão branco, o quadro riscado, a TV fora do ar.
Bill Viola, um dos pioneiros da videoarte, morto na semana passada, sintetizou nesse autorretrato radical, um de seus primeiros trabalhos, os pilares de sua vasta obra audiovisual. O americano, como são Tomé incrédulo diante das chagas de Cristo, punha a mão na substância física que armazena a imagem, uma denúncia de sua concretude para além da luz que brilha na tela, das ondas sonoras que se perdem no espaço.
Em “Tape I”, trabalho do início da década de 1970, Viola já deixava claro que o terreno onde pisa é o da imagem tão vaga e efêmera quanto pétrea, tal qual um afresco na parede de uma catedral.
Não são gratuitas as alusões à iconografia cristã nem as lembranças dos episódios que animaram os renascentistas também em busca, há cinco séculos, da carne da imagem. Viola foi um estudioso aplicado dessas composições antigas, entendendo como poucos a qualidade cinematográfica dessas pinturas que traduziam, como que num único fotograma, a violência de uma narrativa visceral, o nascimento e a morte da ação congelados numa tela estática capaz de construir uma sensação singular de movimento o cinema antes do cinema, o vídeo antes do vídeo.
Em seus trabalhos mais antigos, a textura rudimentar da imagem em fita magnética, a baixa definição da tecnologia da época, ganha o primeiro plano. Viola parecia encantado com a natureza irreal do real, o mundo retratado com o hiperrealismo da câmera portátil que, no entanto, sumia diante dos olhos.
Era uma arte de ponta, construída na crista da onda de uma invenção que revolucionaria a fabricação de imagens, mas que em última instância, no exame mais de perto, com os dedos das mãos, não passava de um borrão. Viola retratava, no fundo, a vertigem de um mundo que tenta se enxergar em foco, mas todo esforço parece ser em vão.
Um filme do final da década de 1970, “Chott el-Djerid (A Portrait in Light and Heat)” ilustra bem isso. São miragens, vultos de construções, carros, caminhões, gente, captados no meio do deserto do Saara. Viola construiu ali uma ópera de fantasmas errantes, formas sem definição que aos poucos se deixam ver para sumir em instantes na vastidão de areia de um horizonte infinito, cegado pela própria luz.
Nesse sentido, o artista sempre operou na contramão da evolução dos instrumentos que usava. Se as câmeras foram ficando mais sofisticadas ao longo dos anos, a definição cada vez mais afiada, Viola buscava nas falhas e limitações de suas lentes o mais expressivo dos elementos de sua obra, a suspensão do peso do real.
O artista se consagrou como o arquiteto de um redemoinho plástico, um autor que exaltou a desorientação acima da ordem, apegado ao caos e à instabilidade tão pouco afeitas ao reflexo de um espelho. É o tremor como espinha dorsal de um trabalho que nunca se deixou ler de modo estático, o movimento como agente perturbador e ao mesmo tempo revelador.
Em entrevistas, ele costumava lembrar um episódio da infância em que caiu num lago e quase se afogou. Debaixo dágua, ele dizia ter visto a coisa mais bela do mundo, um sonho azul e cheio de luz, como imaginou o paraíso, e a sensação de flutuar sem peso. A água, com chuvas torrenciais construídas em estúdio ou mesmo presente em retratos de personagens submersos, nunca abandonou sua obra, ao ponto de ele chamar a imagem em movimento de seus vídeos de água elétrica.
Ele revisitou o trauma de um quase afogamento noutro de seus trabalhos mais potentes à época. “The Reflecting Pool”, também da década de 1970, mostra um homem que caminha em direção a um espelho dágua e pula, mas a imagem é congelada no salto. Lá está sua figura suspensa, parada no ar, enquanto a superfície da água abaixo dele se agita, vestígio inegável de que algo aconteceu ali.
É o avesso de Narciso, tema clássico da pintura. No lugar de contemplar a própria beleza, é o movimento que se mostra em primeiro plano, um desejo de fuga, sem rosto. Não vemos mais que uma silhueta petrificada, que logo desaparece ante o protagonismo da água em movimento, a tal água elétrica que foi o fio condutor da obra do artista.
Viola chegou a ser atacado pela crítica quando seus trabalhos perderam essa radicalidade dos tempos primordiais do vídeo, de efeitos visuais toscos e imagens turvas, e ganhou os traços grandiloquentes de verdadeiros blockbusters em museus do porte da Tate, em Londres, ou o Guggenheim de Bilbao.
Numa dessas exposições, seu vídeo criado para uma montagem da ópera “Tristão e Isolda”, em que um homem parece flutuar rumo ao céu banhado por uma cascata, foi mostrado junto de obras de Michelangelo, o que muitos viram como algo tão datado quanto o mestre renascentista. Na catedral mais importante de Londres, Viola também criou o próprio altar, com imagens de mártires castigados por terra, fogo, ar e água.
O artista gostava de lembrar um ditado da filosofia taoísta que prega que o nascimento não é um começo e a morte não é um fim. Da mesma forma, nascimento e morte muitas vezes apareceram em seus trabalhos lado a lado, como o tríptico que mostra uma mulher dando à luz uma criança e noutra tela a sua própria mãe no leito de morte, no que parece uma versão em vídeo da estarrecedora série de desenhos do modernista Flávio de Carvalho, que retratou a lápis a mãe morrendo.
Seus filmes também não têm começo nem fim. Estão em eterno looping, como as águas agitadas que ele gostava de retratar. Viola foi o artífice de tempestades radicais, mesmo que às vezes atravessadas pelo verniz de falsa sofisticação que lambuza o mundo da arte, em que o dinheiro fala mais alto.
Num trabalho de dez anos atrás, um grupo de pessoas é surpreendido por um dilúvio, ondas que invadem o quadro encharcando tudo. Ele voltava mais uma vez, já mais perto da morte, ao nascimento de seu próprio universo estético, aquele lago que podia matar e que era também a coisa mais bela que ele já tinha visto.
SILAS MARTÍ / Folhapress