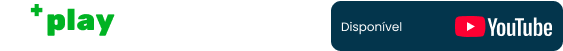SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Maior especialista brasileiro na história da África, Alberto da Costa e Silva morreu neste domingo (26), aos 92 anos. Acadêmico, diplomata, poeta e historiador, ele ocupou a cadeira de número nove da ABL, a Academia Brasileira de Letras.
Segundo nota divulgada pela academia, a morte foi por causas naturais. Alberto era viúvo e deixa três filhos, sete netos e uma bisneta. A cerimônia de cremação acontecerá na segunda-feira (27) e será restrita a familiares.
Dos nove livros que publicou sobre o continente africano, pelo menos dois alcançaram rapidamente o pedestal dos clássicos: “A Enxada e a Lança: a África antes dos Portugueses”, lançado em 1992, e “A Manilha e o Libambo: a África e a Escravidão, de 1500 a 1700”, que saiu dez anos depois.
Por este último, o autor conquistou os prêmios da Fundação Biblioteca Nacional e o Jabuti. Em 2014, também recebeu o Camões, maior condecoração voltada à literatura de língua portuguesa, pelo conjunto da obra.
“Tenho a felicidade de ter recebido muitos prêmios, mas o de que mais me orgulho é o de doutor honoris causa na Universidade de Ifé, na Nigéria. Foi em Ifé que surgiu o homem”, disse à Folha em 2004, quando foi escolhido como o Intelectual do Ano pela União Brasileira dos Escritores (UBE) e levou o troféu Juca Pato.
Em uma rede social, o presidente Lula (PT) lamentou a morte de Costa e Silva, a quem classificou como “um dos mais importantes conhecedores da África no Brasil”.
Para o presidente, o membro da ABL “teve um papel fundamental na necessária aproximação entre o Brasil e o continente africano, de onde nutrimos nossas origens e em cuja ancestralidade alimentamos os nossos saberes”.
Nascido em São Paulo em 1931, passou a infância em Fortaleza e a adolescência e juventude no Rio de Janeiro, onde publicou seu primeiro livro, “O Parque e Outros Poemas”, com apenas 22 anos. Seguia a trilha do pai, Antonio Francisco da Costa e Silva, poeta e funcionário público.
Foi, aliás, um episódio ocorrido com o pai que o levou ao Instituto Rio Branco, como contou à Revista de História da Biblioteca Nacional. “Resolvi ser diplomata para tirar a desforra do Barão do Rio Branco, que selecionava os diplomatas num almoço no Itamaraty. (…) Ao que parece, ele era bom examinador, pois na época o nível da diplomacia brasileira era muito alto. Mas acho que com o meu pai ele foi injusto porque, depois do almoço com meu pai, disse-lhe: Da Costa, você é muito inteligente, fala francês muito bem, conhece inglês, alemão, espanhol, mas você é muito feio. Meu pai não era bonito, mas também não era tão feio assim, era um nordestino franzino e era estrábico.”
A esta altura, já tinha enorme interesse por tudo o que envolvesse a África, uma curiosidade que surgiu, sobretudo, com a leitura de Gilberto Freyre.
“Li Casa Grande e Senzala e foi um deslumbramento. Logo ficou muito claro para mim que não se podia entender o Brasil e não se podia escrever sobre o Brasil sem conhecer a África. E nós tínhamos uma história que era uma transposição lusa para o continente americano. Nós nos víamos como portugueses exilados nos trópicos. E não éramos exatamente aquilo, éramos muito mais do que portugueses exilados nos trópicos. Tínhamos um componente africano que era nítido, e mais tarde eu pude compreender isso quando vivi na Nigéria”, afirmou na entrevista para a revista.
O trabalho na embaixada de Lisboa, a partir de 1960, permitiu que se tornasse mais próximo da África. Missões diplomáticas a partir da capital portuguesa o levaram a países como Angola, Etiópia e Costa do Marfim. Percorreu três vezes de carro o trajeto de Gana à Nigéria.
Costumava dizer que a partir do momento que se conhece a África, esta se torna um vício, comentário bem-humorado que, mais tarde, deu título ao livro de ensaios “O Vício da África e outros Vícios” (1989).
Depois de Lisboa, assumiu postos diplomáticos em Caracas, Washington e Madri. Não demoraria, porém, para retornar para a África: seu primeiro país como embaixador foi a Nigéria, onde ficou por cinco anos. Mais tarde, exerceu essa mesma função em Portugal, na Colômbia e no Paraguai.
Sua chegada a Lagos se deu no final dos anos 1970, década em que uma conversa com o político e jornalista Carlos Lacerda o levou definitivamente a se dedicar aos estudos africanos.
“Um dia, numa discussão com Carlos Lacerda a respeito da guerra civil angolana, mencionei coisas históricas relativas ao passado de Angola, e Carlos me disse: Alberto, você sabe tudo isso sobre a África e guarda para si? Você tem a obrigação intelectual de pôr isso no papel, de publicar, de transmitir o que sabe!. Fui para casa e decidi escrever sobre a África. Foi quando comecei a trabalhar no livro A Enxada e Lança, em 1975 ou 1976”, disse à Revista de História.
Demorou mais de dez anos para escrever “Enxada”, período em que lançou livros de poesia, como “As Linhas da Mão” (1978). “Sigo a máxima de Goethe, que dizia que a cultura é a soma de poesia e história”, afirmou à Folha.
Ganhou, aliás, dois prêmios Jabuti de poesia. O primeiro em 1997 por “Ao Lado de Vera”, dedicado à sua esposa, Vera Queiroz da Costa e Silva, tradutora que morreu em 2011; o segundo, três anos depois, por “Poemas Reunidos”.
Na virada do século, de volta ao Rio e mais distante das incumbências da carreira de diplomata, Costa e Silva intensificou a produção de obras sobre a África e pôde se dedicar à Academia Brasileira de Letras (ABL), entidade que presidiu no biênio 2002 e 2003.
Naquela década de 2000, além de “Manilha”, lançou “Um Rio Chamado Atlântico: A África no Brasil e o Brasil na África” e “Francisco Félix de Sousa, Mercador de Escravos”, biografia do baiano que ficou conhecido como Chachá, o maior traficante de escravos do século 19. São livros que mostram a influência dos países do continente sobre o Brasil e vice-versa, com erudição e clareza.
“Nunca duvidei de que o Brasil se formou na escravidão, o processo mais longo de nossa história, e de que não podemos nos compreender sem estudar a África”, escreveu em artigo publicado na Folha em 2000. Em diversos textos e discursos, criticou o racismo e defendeu as cotas raciais.
Numa bibliografia tão vasta, houve espaço ainda para o memorialista, de livros como “O Espelho do Príncipe” (1994) e “Invenção do Desenho” (2007).
Mas a posteridade tende a se lembrar do autor como o brasileiro que voltou o seu olhar para a África numa época em que pouquíssimos dos seus conterrâneos prestavam atenção no continente. E que detalhou, com entusiasmo, a diversidade e as contradições da região.
Ao recebeu o troféu Juca Pato, em 2004, Costa e Silva foi homenageado pelo amigo Carlos Heitor Cony, jornalista e romancista. “Quando o brasileiro está em Portugal, ele pensa estou perto da Europa. Costa e Silva não olhou para cima. Olhou para baixo, como fez Vasco da Gama e Camões.”
NAIEF HADDAD / Folhapress