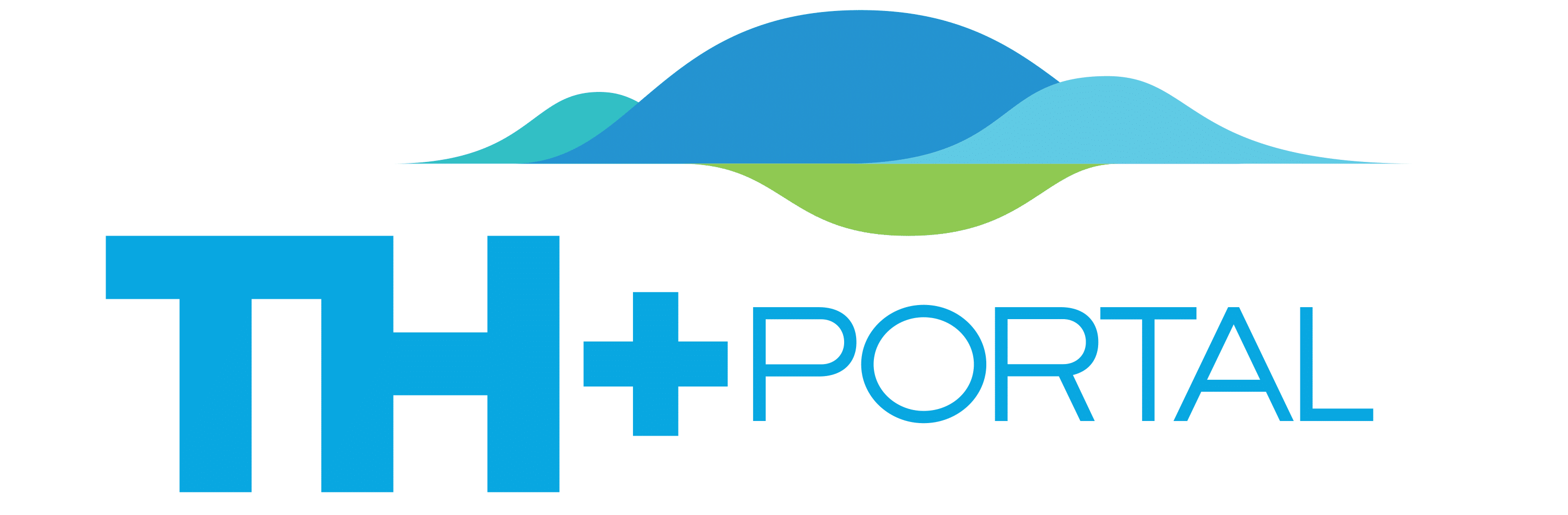SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – No dia 29 de agosto de 1983, dois dias antes da estreia da peça “Feliz Ano Velho”, saiu na Ilustrada, caderno de cultura da Folha de S.Paulo, uma nota que anunciava a adaptação para os palcos do best-seller de Marcelo Rubens Paiva. O livro, lançado apenas oito meses antes, já estava em sua sétima reimpressão.
“Longas filas e fartos comentários na imprensa já são esperados”, começava a nota, não assinada. “Mas é uma incógnita se no palco as angústias autobiográficas de Marcelo Paiva serão capazes de ultrapassar o nível do lacrimoso”, alertava o redator. Em seguida, cometia um erro. “A direção é de Alcides Nogueira.”
Esse era fácil de corrigir. Alcides Nogueira é o autor do texto, o diretor era Paulo Betti. E a montagem ultrapassava, e muito, o nível do lacrimoso. Na verdade, a peça era uma festa. Misturava circo, comédia, romance, sexo, drogas, rock’n’roll e, sim, drama.
O espetáculo estreou num momento em que o que ficou marcado como a cara dos anos 1980, o renascimento do rock brasileiro, a atitude libertária em relação às drogas, costumes mais fluidos e sexualidade à flor da pele, ainda não tinha mostrado o seu DNA.
“Feliz Ano Velho”, a peça, foi um dos pontapés iniciais para os anos 1980. Até, claro, o momento em que a epidemia da Aids invadiu de vez o modo de vida das pessoas e acabou com o sonho de liberdade total que a gente tinha.
“Não havia uma cara musical muito clara no começo dos anos 1980, ainda se vivia o auge de uma coisa muito deprê que era a música popular brasileira daquela época, muito Gonzaguinha, umas coisas muito bolero, sabe? Não era o nosso barato”, diz o escritor e músico Cadão Volpato, colega e veterano de Marcelo Paiva na Escola de Comunicações e Artes, da Universidade de São Paulo, quando o livro e a peça foram lançados.
“Era um ambiente bem repressor ainda, a ditadura estava lá, tinha gente presa no Doi-Codi até 1983”, diz. “Era um país cinzento, desanimado, a sensação geral era de cansaço. Nos anos 1970 tinha muito mais adrenalina, porque tudo era muito perigoso, mas naquele começo de anos 1980 ainda estava tudo indefinido.”
É a mesma sensação da atriz Fernanda Torres, que interpreta Eunice Paiva, a mãe de Marcelo no filme em produção “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, baseado no segundo romance autobiográfico do escritor, em que ele conta conta a história de sua mãe.
“Eu tinha uma sensação de inferioridade geracional. A MPB incrível já tinha passado. Os Novos Baianos, que também eram incríveis, já tinham acontecido. Não restava nada de qualidade, o Brasil tinha sido dizimado e parecia uma condenação viver aqui”, desabafa Torres.
Mas o público daquele agosto de 1983 confiou na adaptação sem atores famosos em seu elenco, e apareceu em peso no dia da estreia.
Houve confusão no Centro Cultural São Paulo, onde “Feliz Ano Velho” teve uma primeira temporada de três semanas a preços populares. Com a fila grande e a demora da abertura da bilheteria, a multidão quebrou um dos painéis de vidro que a separavam da porta do teatro.
Às nove da noite, o ator Marcos Frota surgiu em cena, só de bermuda vermelha, agachado na frente do palco, que tinha uma escada no meio e dois trapézios, um de cada lado. Ele descrevia o que o personagem sentiu imediatamente depois do mergulho que o deixou tetraplégico, quando percebeu que estava debaixo d’água e não tinha controle nenhum sobre seu corpo.
Enquanto falava o texto, Frota se levantava e ia andando em direção à escada de oito metros de altura, então subia os degraus até chegar ao mais alto. Em pé, lá em cima, com uma luz só nele, abria os braços, fazia uma pose de mergulho e gritava “aí, Gregor, eu vou descobrir o tesouro que você escondeu aí embaixo, seu milionário disfarçado”.
Então saltava de cabeça e, antes que chegasse a um colchão colocado no palco sem o público notar, a luz era apagada. Não dava para entender como aquilo era possível.
Quando a luz acendia, o ator entrava em cena empurrando uma maca de hospital, se deitava em cima dela e ficava imóvel. A tensão na plateia atingia o nível máximo, mas já tinha ficado evidente, desde o salto mortal dado no escuro, que aquela peça ia, sim, “ultrapassar o nível do lacrimoso”, como temia o jornalista.
“‘Feliz Ano Velho’ tem dois ingredientes muito fortes. Tem a fragilidade da existência humana e o componente trágico político”, diz o diretor Paulo Betti. “Esses dois fatores, naquele momento, em que a gente ainda vivia uma ditadura, mas já vislumbrava a abertura e tinha vontade de ser livre, de ser jovem e via essa possibilidade, porque o mundo não era mais tão repressivo, são os principais motivos do sucesso da peça.”
“Feliz Ano Velho” ficou cinco anos em cartaz e virou um fenômeno pop. Quem viu no livro a possibilidade de transformar a obra em teatro foi o ator e então líder do movimento estudantil Marcos Kaloy.
“Eu estava buscando um texto que desse voz à ansiedade que a gente sentia, naquele momento de ditadura militar capenga, mas ainda lá”, afirma Kaloy, hoje vereador em Campinas, no interior paulista. “Já tinha um movimento despontando de um teatro mais alegre, principalmente no Rio de Janeiro com o Asdrúbal Trouxe o Trombone, que saía daquela coisa pesada, do teatrão. Quando li o livro do Marcelo, achei o que estava procurando”, diz.
Kaloy chamou o dramaturgo Alcides Nogueira para fazer a adaptação. “O livro tinha comovido o Brasil inteiro desde o dia do lançamento e a história era muito trágica, tanto do filho quanto do pai. Aí me veio uma ideia de contar as duas histórias em paralelo”, lembra Nogueira.
A atriz Lilia Cabral, que fazia várias personagens secundárias, teve em “Feliz Ano Velho” a oportunidade de demonstrar o imenso talento, que hoje em dia todos conhecem. Em 1983, ela era recém-formada pela Escola de Artes Dramáticas da Universidade de São Paulo.
“Eu peguei os papéis que ninguém queria fazer na peça. Eram papéis pequenos, mas que eu explorava ao máximo”, conta a atriz, que fazia o público rir e aplaudir suas atuações, como a de duas enfermeiras do hospital, Elma e Ilma, que não eram irmãs, mas moravam juntas, e a professora de ginástica com sotaque alemão que Marcelo via pela TV da cama do hospital.
Durante os ensaios, Paulo Betti teve a ideia de transformar as cenas de hospital em um circo, para suavizar o drama inerente a elas. O ator Adilson Barros, que interpretava Rubens Paiva e o médico, compôs o “Samba da Cadeira”, que cantava com Marcos Frota e as mulheres do elenco.
Marcelo Rubens Paiva, que tinha ambição de ser músico antes de sofrer o acidente, é filho do ex-deputado federal Rubens Paiva, cassado, exilado e depois preso e torturado até a morte pelo regime militar.
Eunice e os cinco filhos, quatro meninas e o caçula, Marcelo, que tinha sete anos quando o pai desapareceu, passaram décadas sem saber o que realmente tinha acontecido. Rubens Paiva virou uma figura emblemática da ditadura, um desaparecido com amigos intelectuais, gente conhecida e poderosa, mas que não pôde fazer nada para responder às perguntas da família.
“Nos anos 1970, quando uma mulher ficava viúva ou era desquitada, passava a ser considerada uma ameaça para as outras mulheres, como se ela pudesse roubar o marido das mulheres casadas. Minha mãe teve que enfrentar isso, ainda por cima”, lembra Marcelo.
Mas Eunice Paiva nunca quis que a vissem como uma vítima, nem que seus filhos crescessem com pena de si mesmos. E essa atitude também acabou sendo adotada por Marcelo quando ele ficou tetraplégico, em 1979.
Foi convencido pelo editor Caio Graco, morto em 1992, da extinta editora Brasiliense, a escrever sobre o acidente que sofrera aos 19 anos, quando foi passar o dia com amigos da faculdade na beira de um rio, subiu numa pedra, fez uma piada e mergulhou de cabeça numa parte mais rasa do que ele imaginava.
Bateu a cabeça, quebrou a quinta vértebra cervical e comprimiu a medula. Desde aquele 14 de dezembro, nunca mais andou, nem consegue movimentar seu corpo da cintura para baixo. Mas fez questão de não fazer do seu livro uma tragédia. “Eu estava vivendo um momento de pânico, mas sempre tive humor. Sempre adorei o Monty Phyton, era fã dos quadrinhos do Glauco, do Angeli.”
“Descobri o tom do livro na primeira vez que fui ao centro de reabilitação e percebi que os caras eram superdivertidos, sacanas, um empurrava o outro da cadeira, tinha fisioterapeuta que transava com cadeirante, enfermeiro casado com cadeirante”, conta o autor. “Quando você chega a um lugar de cadeira de rodas, fica todo mundo pensando em tragédia, ‘coitado do cara’. Isso é muito cansativo.”
Dois sábados atrás, no bar Exit, em São Paulo, assisti ao show de estreia da banda Lost in Translation, idealizada por Marcelo Rubens Paiva, que encontrou na gaita uma maneira de se reconectar com a música, um elo que havia sido desfeito por causa do acidente que, anos atrás, afetou o movimento de suas mãos.
Além de tocar o instrumento, Marcelo cantou suas traduções de letras de músicas de Lou Reed a Billie Eilish, David Bowie a Britney Spears. Voz e violão são de Fábio França, o Fabião, que aparece no segundo capítulo de “Feliz Ano Velho”, quando os dois fazem uma viagem ao Paraguai, aos 17 anos, e acabam duros depois de noitadas nos cassinos.
Na cena final da peça “Feliz Ano Velho”, Marcelo está deitado na cama de hospital e lembra a mãe que aquele é o dia 14 de dezembro de 1980 e que faz um ano que ele sofreu o acidente. Eunice, interpretada por Denise Del Vecchio, está sentada na cadeira de rodas do filho, experimentando a sensação de se locomover daquela forma.
“É estranho. Como deve estar sendo estranho para você, Marcelo. Mas você está vivo, Marcelo. Vivo. E disso não se abdica. E disso tem que se tirar prazer”, dizia Eunice.
Ela pergunta ao filho se deveria desejar um feliz ano novo a ele, que responde que sim. Eunice se levanta, vai até o rosto de Marcelo, passa a mão na franja farta do menino e dá um beijo em sua testa. A luz se apaga lentamente e uma música suave começa a tocar ao fundo. Fim.
TETÉ RIBEIRO / Folhapress