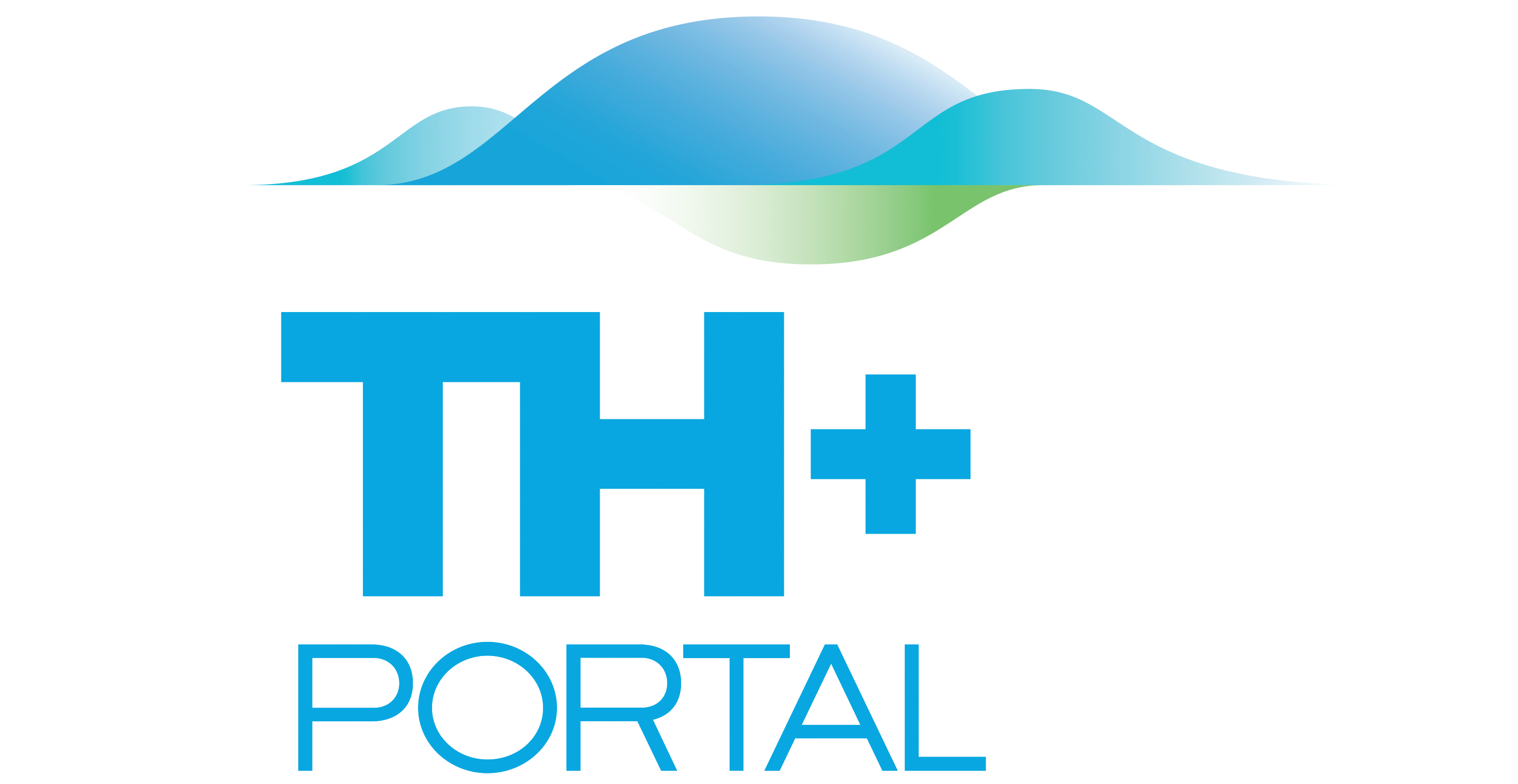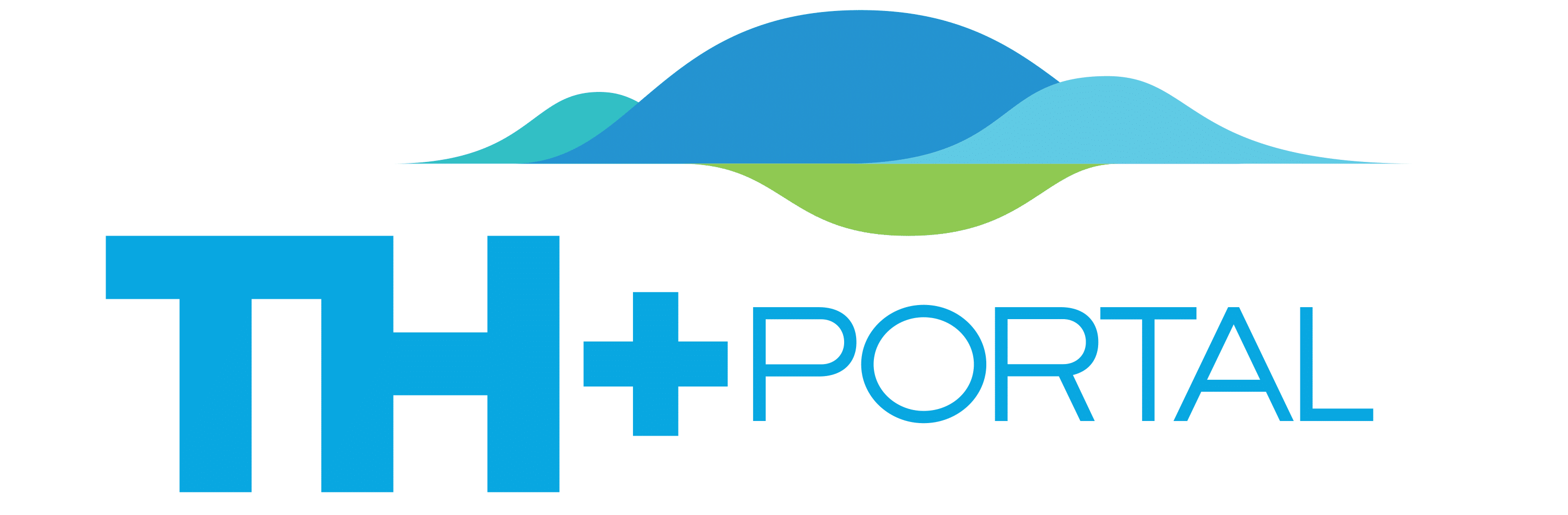RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Se um dia acontecer alguma coisa, salve os “tipos”. Essa foi a primeira lição que Claudio Costa Fernandes, técnico laborista, aprendeu quando entrou para o setor da malacologia do Museu Nacional, há 35 anos. Não imaginou, porém, que um dia a colocaria em prática.
No dia 2 de setembro de 2018, ao saber do incêndio no Museu Nacional, Fernandes correu para a Quinta da Boa Vista, na zona norte do Rio, e se deparou com o palácio imperial em chamas. Se dirigiu para sua seção, especializada em moluscos, e, apesar da fumaça densa, entrou na sala.
Na biologia, um tipo é o exemplar que define uma espécie ou gênero. É usado como padrão de referência para identificação de novos indivíduos encontrados a posteriori e será consultado sempre que surgir uma dúvida sobre aplicação do nome da espécie. É a peça mais importante de qualquer coleção.
O setor dos moluscos ficava na lateral do Museu Nacional, que, naquele momento, era destruído pelas chamas causadas por uma pane elétrica. Mesmo assim, Fernandes se arriscou para salvar seus moluscos. Conseguiu resgatar 90% da coleção de espécies tipo. No ano seguinte, foi homenageado pela UFRJ, administradora do museu, e pela Sociedade Brasileira de Malacologia.
“No dia a dia, precisa de duas pessoas para pegar as gavetas da coleção. Na noite do incêndio, eu tirava elas do armário sozinho. Minhas mãos ficaram machucadas, cheias de bolha”, conta Fernandes.
Antes do incêndio, o Museu Nacional tinha 52 mil lotes de moluscos. Só de exemplares tipos eram ao menos 518, segundo levantamento feito em 2014. Era um dos acervos de malacologia mais robustos do continente.
Hoje, o trabalho de Fernandes é tentar recuperar as peças que sobreviveram ao incêndio. Cinco anos depois do fogo, polvos e lulas do acervo torrados nas chamas ainda mantêm o cheiro de queimado. Algumas conchas, que estavam guardadas em sacos, agora estão envoltas pelo plástico derretido.
O Museu Nacional foi o primeiro museu do Brasil, criado em 1818 e transferido para o Palácio de São Cristóvão, antiga residência da família imperial, em 1892. Algumas das peças de seu acervo datavam do período colonial; foram presentes a dom João 6º quando ele ainda era príncipe regente.
No entanto, mesmo sendo referência na área de pesquisa do mundo inteiro e abrigando peças como Luzia, o fóssil humano mais antigo da América do Sul, o museu sofria com a falta de repasses federais e sucateamento das instituições de cultura e ciência.
Estima-se que 80% do acervo do Museu Nacional tenha sido consumido pelo incêndio. O fogo durou mais de seis horas e atingiu os telhados e pisos do prédio histórico. Até hoje, a única parte totalmente reparada foi a fachada do prédio, inaugurada em setembro de 2022.
A previsão é de que ainda este ano se inicie as obras dos blocos 2, 3 e 4 do palácio. Elas devem ser concluídas até 2025. No próximo ano, o Museu Nacional deve abrir uma sala para a visitação do meteorito Bendegó. Mas a abertura completa do museu deve acontecer só entre 2026 e 2028. Após diversos adiamentos, não há mais uma data fechada para a reinauguração.
Ao todo, o orçamento previsto para a recuperação do museu é de R$ 445 milhões. Segundo a administração da instituição, 60% da verba já foi captada: R$ 144,8 milhões de recursos federais (via BNDES, emendas parlamentares e dos ministérios da Educação e Ciência e Tecnologia); R$ 20 milhões de repasses estaduais e R$ 100,5 milhões da iniciativa privada.
Uma das coleções mais afetadas pelo fogo foi a de insetos. O departamento de entomologia ficava no segundo andar do último bloco do prédio. Por causa do calor das chamas, vários insetos do acervo voaram após os telhados ruírem.
Dos seus 12 milhões de exemplares, quase tudo se perdeu. Sobraram alguns poucos guardados em outro prédio da instituição ou que tinham sido emprestados a pesquisadores parceiros. Dos que voaram para fora do palácio, restou apenas pequenos fragmentos de besouros e gafanhotos que ainda seriam catalogados.
Pedro Souza Dias tinha tomado posse como professor do museu dois dias antes do incêndio. Quando soube que o prédio estava em chamas, correu até ele.
“Eu saí de um dos dias mais felizes da minha vida para o mais triste”, conta.
As coleções têm uma importância não só para o ramo da biologia. Elas servem como estudos para guiar políticas públicas. Indicam possíveis impactos ambientais em obras como, por exemplo, da Foz do Amazonas. Pela análise desses acervos, é possível ver quais animais vivem ou viveram naquele habitat. E como seriam afetados com eventuais intervenções humanas.
“A gente que trabalha com isso fica triste pela perda das coleções e pelas pessoas não saberem de sua importância”, afirma Dias. “A gente sofre o dobro.”
Parte dos exemplares do departamento de invertebrados que estavam guardados no Palácio de São Cristóvão ficava em vidros com álcool. Com o incêndio, os frascos explodiram, inviabilizando a recuperação das peças.
No caso dos insetos, a fragilidade do material também pesou para que ele não sobrevivesse às chamas. O acervo de borboletas e mariposas, antes de o fogo atingir o prédio, era de 186 mil exemplares. Hoje são 12 mil.
“Há um desânimo se pensarmos no que foi perdido”, diz Thamara Zacca, especialista em lepidoptera, ordem de insetos que inclui as borboletas e mariposas. “Mas eu gosto de pensar que o que temos hoje é um acervo novo e que está em crescimento.”
Para se reerguer e reestruturar suas coleções, o Museu Nacional tem contado com o apoio de outras instituições de pesquisas e parceiros privados. Muitos entusiastas amadores doaram ao museu coleções privadas, de insetos, moluscos, aranhas, entre outros.
Um dos exemplos dessa ajuda é a volta do manto tupinambá ao Brasil, que será doado pela Dinamarca ao setor de etnologia do Museu Nacional. A área que contava dos povos indígenas e da colonização brasileira foi outra duramente afetada pelas chamas.
Quase tudo da seção foi destruído. Para repará-la, os pesquisadores têm atuado em três frentes. A primeira é a recuperação da memória do material perdido a partir da publicação de livros e artigos. A segunda é a reconstrução das peças feita através de um trabalho em conjunto com os próprios indígenas. E a terceira, a digitalização de todo o material para que não fique restrito apenas ao museu.
“Não vamos recriar um museu colonial padrão do século 19. Vamos produzir um museu do século 21, com a participação dos indígenas. Com a curadoria ativa deles. Vai ser substancialmente diferente”, afirma João Pacheco de Oliveira, curador das coleções etnográficas.
Artefatos indígenas de etnias já extintas e pinturas que remontam ao início de 1900 não vão conseguir recuperadas. Mas suas memórias, diz Oliveira, ficaram eternizadas pelo trabalho dos pesquisadores.
“Vamos resgatando a memórias através dos livros. E estamos formando novas coleções, desta vez pela ótica e perspectiva dos próprios indígenas”, afirma.
CAMILA ZARUR / Folhapress