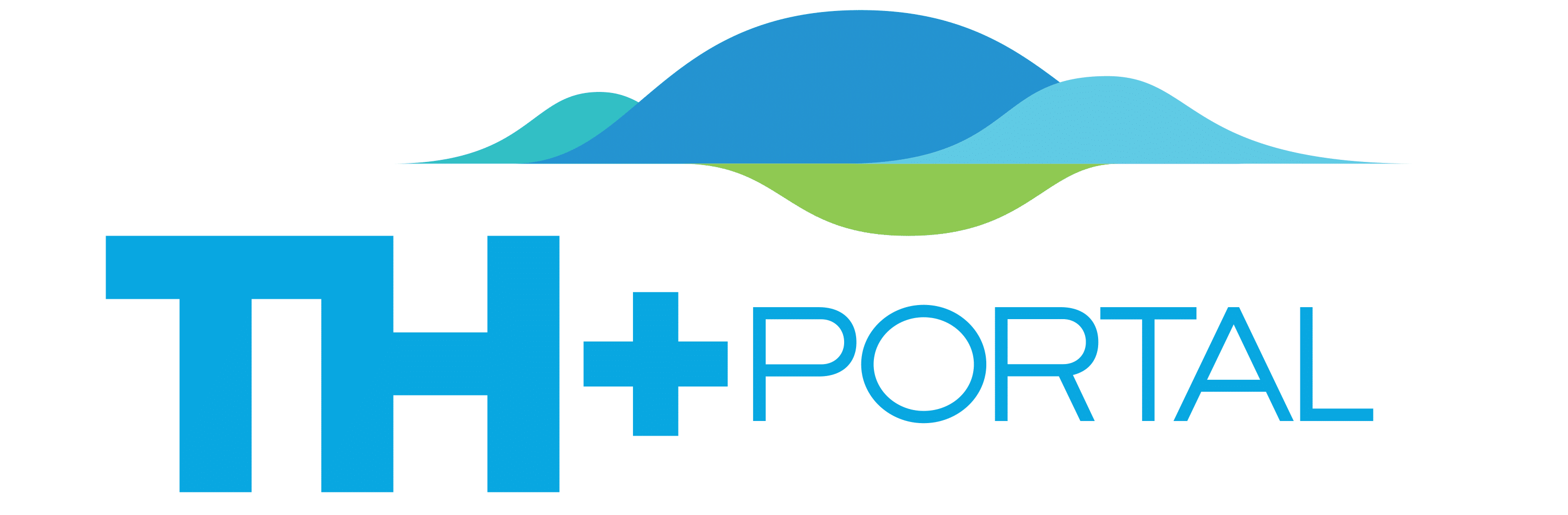BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – A decisão de James Monroe de reconhecer a independência do Brasil, em maio de 1824, ocorreu no contexto da doutrina lançada meses antes pelo então presidente dos Estados Unidos. Sob a justificativa de afastar o risco da recolonização, a chamada doutrina Monroe preconizava que o hemisfério Ocidental (ou simplesmente as Américas) deveria ser parte do campo da influência americana.
A relação bilateral, que completa 200 anos neste domingo (26), atravessou diferentes etapas, com momentos de maior aproximação e outros de afastamento –além de uma mudança de paradigma na década de 1960.
Durante boa parte do século 19 não foi claro se a ambição dos EUA de substituir as potências europeias como principal polo de poder na América Latina iria se concretizar. Afinal, naquela época era com o Reino Unido que os governos latino-americanos, entre eles o Império do Brasil, mantinham seus principais laços econômicos e políticos.
No caso específico do Brasil, segundo explica a professora da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) Cristina Pecequilo, a história do relacionamento bilateral nasceu ainda sob uma contradição perigosa para o império: o mesmo país que ajudava o Brasil a consolidar sua independência de Portugal preconizava ideais republicanos e de democracia (ainda que à época bastante limitada) perigosos para um regime essencialmente monárquico.
Segundo a especialista, Washington não via grandes inconvenientes de ter um governo inspirado nas monarquias europeias no hemisfério que, na ótica americana, deveria estar livre dos vícios do velho continente.
De forma bastante pragmática, os primeiros diplomatas do Departamento de Estado achavam conveniente um país de expressão regional que servia como força estabilizadora na América do Sul, formada por um apanhado de repúblicas menores. Além do mais, as ações dos EUA direcionadas aos países latino-americanos à época tinham mais foco no México (que perdeu metade do seu território numa guerra com seu vizinho do norte) e na América Central.
As primeiras décadas dessa história tiveram momentos marcantes, como a viagem em 1876 do imperador Dom Pedro 2º aos EUA. Entre outros compromissos, ele participou da abertura da Exposição Universal da Filadélfia ao lado do então presidente Ulysses Grant.
Entusiasta das inovações da sua época, ficou maravilhado com o telefone recém-inventado por Alexander Graham Bell.
Se no início a influência dos EUA sobre o Brasil foi mais retórica do que prática, a situação começou a mudar a partir do momento em que os americanos resolveram questões internas, principalmente o fim da Guerra de Secessão e a expansão territorial em direção ao Pacífico.
Na virada para o século 20, a consolidação interna permitiu que os EUA fortalecessem a ideia que Monroe havia lançado ainda em 1823.
Do lado brasileiro, o contexto era favorável. A abolição da escravidão e a troca para o regime republicano tinham diluído contradições que persistiam na relação bilateral.
Os EUA vinham mostrando uma pujança econômica que indicava uma mudança no tabuleiro da geopolítica mundial. Esse fenômeno foi percebido pelo mais celebrado diplomata brasileiro, José Maria da Silva Paranhos Júnior.
De acordo com a professora Pecequilo, um dos pioneirismos do Barão do Rio Branco foi justamente enxergar que o polo de poder rapidamente se transferia da Europa para a América do Norte. Diante desse diagnóstico, ele atuou para reposicionar o Brasil.
“Rio Branco estabeleceu como prioridade uma relação pragmática com os EUA. Ele foi um visionário, percebeu que Brasil e EUA eram os dois grandes poderes hemisféricos, e que o eixo do poder mundial estava mudando para a América por causa dos EUA”, afirma Pecequilo.
Segundo a professora, um dos pilares da política externa nacional nos primeiros anos do século 20 era contar que a aproximação política com os EUA renderia concessões de Washington que seriam benéficas para o Brasil.
A chegada ao poder de Getúlio Vargas trouxe novos componentes para essa dinâmica. Por um lado, o líder brasileiro usou o flerte com a Alemanha Nazista para garantir financiamento americano para a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), base da sua política de industrialização.
Entrou na guerra do lado dos Aliados, e o Brasil mandou tropas para combater na Europa.
Por outro, os EUA então liderados por Franklin Roosevelt –que visitou o Brasil em 1936 e em 1943–apostaram na chamada política da boa vizinhança e na revitalização do pan-americanismo. O principal símbolo na cultura popular dessa época foi a criação do personagem Zé Carioca por Walt Disney.
Ao longo das décadas seguintes, a opção pelos EUA como eixo da política externa começou a sofrer questionamentos sob o argumento de que as concessões esperadas com esse caminho não estavam valendo a pena.
Esse movimento culminou na Política Externa Independente da década de 60, quando o Brasil passou a advogar que também podia se relacionar economicamente com o bloco socialista na Guerra Fria.
Apesar de um realinhamento no início da ditadura militar, afinal os EUA apoiaram o golpe de 1964, a necessidade de manter alguma autonomia em relação à Washington voltou a ganhar força pouco depois.
“Costa e Silva, Médici e Geisel tiveram políticas que vão buscar uma autonomia em relação aos EUA na Guerra Fria”, diz Pecequilo.
A ditadura seguia a orientação americana no combate ao comunismo, mas frustrou Washington em outros temas: ao não assinar o tratado de não-proliferação nuclear em 1968, na aproximação com a China e no aprofundamento das relações com o Oriente Médio, para citar alguns exemplos.
Na década de 1970 houve ainda conhecidos atritos entre a ditadura e o presidente Jimmy Carter, que deu nova ênfase à pauta de defesa dos direitos humanos e de liberdades civis.
O fim da ditadura ajudou a retirar a pressão sobre o tema dos direitos humanos e, de acordo com Pecequilo, o governo José Sarney (1985-90) promoveu uma espécie de “limpeza na agenda”. Apesar disso, algumas divergências permaneceram evidentes, entre elas a causada pela decisão do Brasil de proteger seu mercado de informática e o impulso pela integração regional.
Uma nova reaproximação ocorreu com a chegada de Fernando Collor ao poder, em 1990. Para a professora da Unifesp, o período Collor foi a “alinhamento pleno e automático” com Washington.
Ela define os anos Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) como de “alinhamento pragmático”, sucedido por um renovado discurso pró-autonomia com Lula.
A primeira passagem de Lula pelo Planalto e a de sua sucessora, Dilma Rousseff, assistiram a uma mudança significativa que trouxe reflexos para as relações econômicas entre os dois países: desde 2009 o principal parceiro comercial do Brasil passou a ser a China, que desbancou os EUA da posição.
No terceiro mandato de Lula, após um hiato de alinhamento radical nos dois anos em que Jair Bolsonaro e Donald Trump coincidiram no poder, prevalece a retórica de autonomia.
Os Estados Unidos apoiaram a transição de poder de Bolsonaro para Lula e foram peça fundamental em desestimular movimentos golpistas nas Forças Armadas. Também prontamente condenaram os ataques antidemocráticos de 8 de Janeiro, vistos pela administração Joe Biden como uma espécie de reedição dos ataques ao Capitólio em 2020.
Mas o governo Biden não esconde a frustração com o que considera falta de gratidão do governo Lula. A percepção se consolidou com as críticas de Lula à postura dos EUA na Guerra da Ucrânia –o petista chegou a acusar os americanos de fomentarem o conflito.
O futuro do relacionamento nascido em 1824 tende a ser pautado pela principal disputa da geopolítica na atualidade, a Guerra Fria 2.0 entre China e EUA. Nessa queda de braço entre gigantes, o governo brasileiro alega adotar uma posição de equidistância.
Mas, como a Folha mostrou, está cada vez mais difícil para a diplomacia brasileira manter essa posição.
Quem quer que ganhe as eleições na Casa Branca neste ano, seja Biden ou Trump, deve aumentar o tom de cobrança para que outros países se afastem de Pequim ou boicotem produtos chineses.
RICARDO DELLA COLETTA / Folhapress