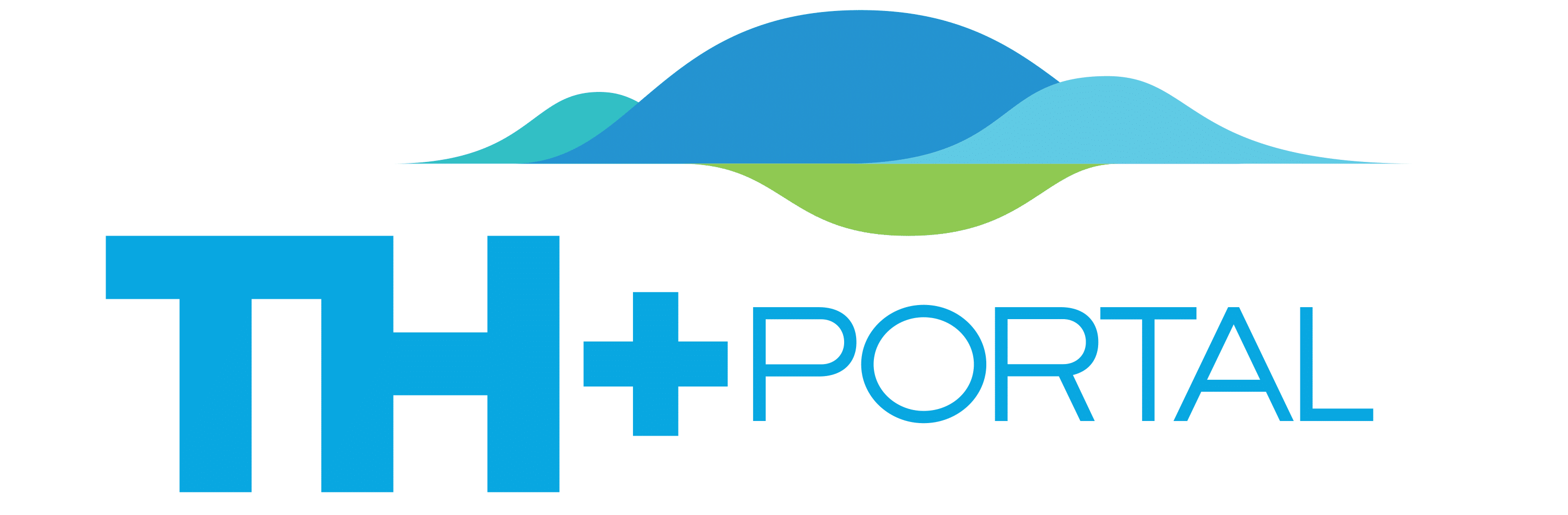SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Para além de demarcar terras, povos originários parecem viver hoje uma luta para ocupar também as telas. Foi assim que o escritor Ailton Krenak descreveu, há alguns anos, a necessidade de aumentar a presença indígena no audiovisual, um apelo que muitos parecem ter ouvido.
Numa leva recente de produções nacionais de ficção, os indígenas têm tomado protagonismo. Esse movimento vai ficar mais claro a partir da semana que vem, quando o Brasil estará representado no Festival de Cannes, o mais importante da cinefilia, por “A Flor do Buriti”, que retoma o trabalho de João Salaviza e Renée Nader Messora com os krahô, já filmados por eles em “Chuva É Cantoria na Aldeia dos Mortos”.
Mas antes mesmo do evento, no mês passado, em que se comemorou o Dia dos Povos Indígenas, estiveram em cartaz “Noites Alienígenas” e “Para’í”. No streaming, “Cidade Invisível” manteve sua segunda temporada, centrada no folclore, entre as mais vistas.
Aos tapajós, guaranis, krahôs e guajajaras desses títulos somam-se ainda os yanomamis de “A Última Floresta”, os desanos de “A Febre”, os ticunas de “Antes o Tempo Não Acabava” e kuikuros, javaés e kadiwéus da animação “Mitos Indígenas em Travessia”.
Eles estão distantes de ficções celebradas do passado, como “Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel” e “O Guarani”, que sexualizaram e escolheram brancos para o papel dos indígenas protagonistas, sem muito comprometimento ou contato com os povos originários.
“Quando usei a expressão ‘demarcar as telas’ pela primeira vez, em 2014, foi no sentido de desdobrar as conquistas políticas por direitos territoriais que a gente já tinha alcançado a partir dos anos 1980. Agora, há uma nova jornada, que pensa o território não mais como uma questão física, mas também subjetiva”, diz Krenak, um dos autores e líderes indígenas mais respeitados do país.
Ele próprio prepara um roteiro, batizado de “Jerônimo”, que deve começar a ser gravado no ano que vem. Krenak deve assumir a codireção da trama, sobre um xavante que entra em contato com pessoas de fora de sua aldeia pela primeira vez, aos 60 anos. O orçamento foi aprovado e a expectativa é que o projeto seja finalizado em dois anos.
É impregnando narrativas audiovisuais de histórias sobre os povos indígenas que, ele acredita, mudará também o clima político e a animosidade do país, que viu recentemente uma crise se alastrar pelos yanomamis e o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips.
Quem faz eco é Maíra Bühler, cineasta que desenvolve “O Casamento”. Ela insiste que é preciso acabar com a romantização em torno do tema, para que o Brasil entenda o quão diverso é -cheio de línguas, culturas e formas de viver diferentes.
Esse romantismo é aquele presente nas várias versões para a história de Pocahontas, com uma variante brasileira que é objeto central do filme de Bühler. Ainda em fase embrionária, “O Casamento” surgiu de uma ideia da Abrolhos Filmes e pretende desconstruir a espetacularização que envolveu o primeiro matrimônio de um branco com uma indígena no Brasil, nos anos 1950.
Diacuí, do povo kalapalo, foi apresentada pelos jornais da época como uma selvagem que seria civilizada, graças a um salvador branco que a levou para a cidade grande, encheu seu rosto de maquiagem e a pôs num vestido de noiva. Sua história, porém, é marcada por diversas agressões, ignoradas à época.
“Precisamos entender toda a dor e a violência que esse mito da miscigenação esconde. Uma das formas de romper com isso é entender que o amor romântico não é universal. Para os kalapalos, as relações afetivas são vividas de outra forma. Este é um filme sobre um choque de mundos e de narrativas”, diz Bühler.
A ideia idílica da miscigenação suscita também questionamentos dentro do próprio fazer cinematográfico. Por mais que a indústria esteja se voltando aos indígenas para além do gênero documental, mais antropológico, é fato que a produção desses filmes e séries ainda se concentra em mãos brancas.
Em meio à fervente discussão sobre lugar de fala, não é com facilidade que se navega por esse campo delicado. Bühler assina o roteiro de “O Casamento” com o antropólogo Renato Sztutman e Urisé Kalapalo, indígena, num esforço coletivo que, diz ela, ilustra justamente o choque cultural sobre o qual fala a trama.
Renée Nader Messora, cineasta que com o marido e codiretor, o português João Salaviza, vai levar “Flor do Buriti” e uma comitiva de indígenas a Cannes, também se juntou a três representantes dos povos originários vistos nos filmes, Ilda Patpro Krahô, Francisco Hyjnõ Krahô e Ihjãc Henrique Krahô, corroteiristas que guiaram também seu processo de direção.
Messora, que desde 2009 visita rotineiramente os krahôs, diz que sua carreira inteira é atravessada por questionamentos do tipo -dos quais ela não foge, mas que ainda estão sem respostas.
“Esta discussão nos faz repensar o nosso lugar e isso sempre vai ser válido. Por ser uma mulher branca numa comunidade indígena, eu gosto de pensar como eu posso ser aliada deles e o que eu posso fazer para alavancar os processos que a comunidade quer que sejam alavancados”, afirma.
“Mas talvez eu não devesse filmar numa comunidade indígena. Já ouvi isso, e esses questionamentos aparecem toda hora.” Assim, Messora instituiu entre os krahôs do Tocantins um coletivo de audiovisual, para que desse algo em retorno à comunidade que a acolheu e se permitiu ser gravada.
Essa espécie de escambo é comum entre cineastas que filmam com povos originários. Bühler também tem como contrapartida para “O Casamento” deixar para os kalapalos do Xingu um espaço de produção audiovisual e um centro de memória. Já em paralelo à ficção, ela auxilia jovens locais a desenvolver um documentário sobre o resgate da história de Diacuí.
Editais também têm destinado recursos a produções centradas nos povos originários, mas o caminho até a representatividade em todas as esferas, incluindo em cargos de direção e produção, ainda é longo, na avaliação de Krenak.
O autor elogia o trabalho de gente como Zelito Viana, Andrea Tonacci e Luiz Bolognesi, que se juntou a Davi Kopenawa em “A Última Floresta”, que ele vê como grandes aliados na desmistificação do indígena no audiovisual. Mas destaca que, ainda assim, é a visão do branco a que mais chega às telas. “Demarcar a tela é imprimir o nosso próprio olhar nas imagens que vão contar as nossas histórias”, afirma.
“Cidade Invisível” foi criticada em sua primeira temporada justamente pela ausência de indígenas em suas equipes e episódios. Para a segunda leva, mudou a trama do Rio de Janeiro para o Pará e corrigiu o problema chamando a cineasta Gabriela Guarani para dirigir parte dos capítulos. O elenco também ganhou adições, como Zahy Tentehar.
À época do lançamento, ela deixou claro seu receio com a produção. “Eu não sou boba, não. Logo que fui fazer o teste, falei das minhas questões com a série e daquilo que não gostaria de ver”, disse a atriz. Quando percebeu o maior comprometimento com seu povo, cedeu e, agora, rodou o mundo com sua personagem vilanesca, distante justamente do lugar romantizado ao qual indígenas são historicamente colados.
Se no gênero documental realizadores indígenas têm aparecido com mais frequência, como é o caso de Takumã Kuikuro e da própria Graciela Guarani ou de M’bya Guarani Kuaray e Pará Yxapy, conhecidos também como Ariel Ortega e Patrícia Ferreira, homenageados na última Mostra de Cinema de Ouro Preto, a CineOP, a ficção se mostra um território ainda a ser desbravado.
Com amplo acervo de produções criadas por indígenas, a plataforma Vídeo nas Aldeias, fundada pelo antropólogo e documentarista Vincent Carelli, referência no tema, reúne o potencial que há neste novo cinema, que ainda tem muito a ser explorado.
LEONARDO SANCHEZ / Folhapress